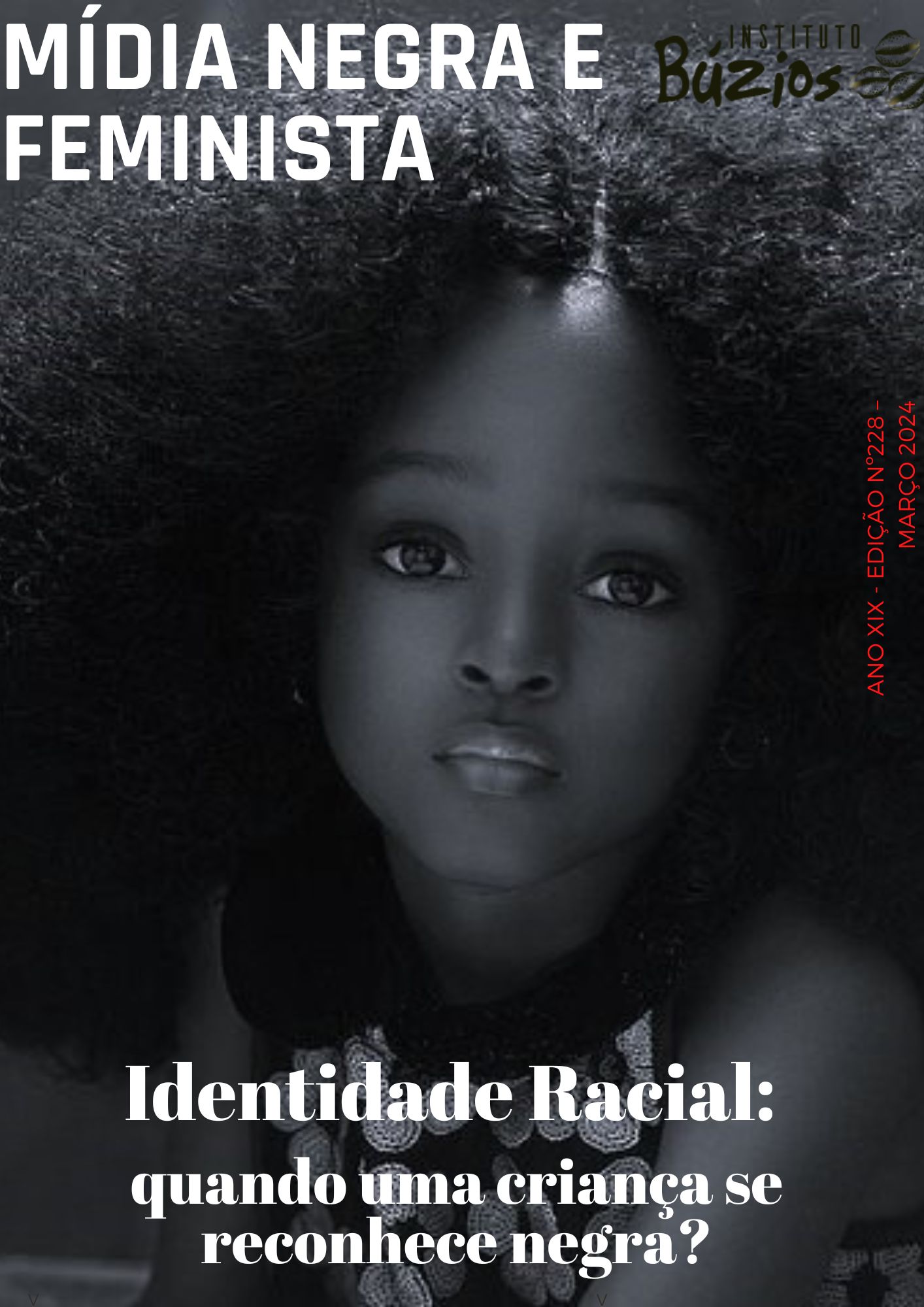Por Chico Whitaker*
É preciso passar da indignação à ação, se quisermos que as coisas mudem de fato
Em 2010, um diplomata francês de 92 anos, Stéphane Hessel, então o único redator ainda vivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, publicou um pequeno livro com o título Indignai-vos. Com mais de dois milhões de exemplares logo vendidos em seu país e edições em muitos outros, esse texto inspirou movimentos como o dos “indignados” na Espanha, em 2011, que encheu as praças desse país gritando aos partidos, deputados e senadores, “vocês não nos representam”, o que levou a uma nova conformação do seu espectro político.
Mas há bastante tempo ouvimos e repetimos, no Brasil, que não basta nos indignarmos diante do que consideramos inaceitável – que é o que hoje, aqui, não nos falta. E que é preciso passar da indignação à ação, se quisermos que as coisas mudem de fato.
No entanto, passar à ação exige muito mais de nós. Exige que deixemos de lado uns tantos prazeres da vida. Exige se dispor a mudar a rotina de vida, abdicar da tranquilidade – os que conseguiram ter esse privilégio – e assumir uma prática de militância por uma causa. Exige que nos unamos a outros “indignados”, para superar as limitações das ações isoladas e aumentar nossa força. Exige aceitar as exigências das ações coletivas e dispor-se a enfrentar as consequências da ação – que em certos casos podem muito duras.
Ora, atender a tais exigências não é assim tão fácil. E acabamos nos deixando dominar por outro comportamento, até para que consigamos sobreviver emocionalmente, o de “naturalizar” o inaceitável. “Acostumamo-nos” com ele, ou seja, com “a vida como ela é”, e tocamos o barco para a frente. E passamos a conviver com o que provocou nossa indignação, até que ela se esmaeça e desapareça, enquanto não surge outra razão para nos indignarmos.
E foi assim que parece termos caído numa armadilha, no Brasil. Mesmo diante de situações em que o insuportável se tornou extremamente pesado, não estamos sendo capazes de nos sentarmos juntos – pelo menos quem não está obrigado a lutar pela pura sobrevivência física – para definir alguns objetivos, medidas e ações em que concentrar nossa força cívica conjunta, ainda que prosseguindo nossas lutas especificas.
Nem agora, diante do desafio imediato de impedir que se crie o tumulto que está sendo preparado para que as eleições nem se realizem, combinado com ataques de todos os tipos ao Tribunal Superior Eleitoral, em sua missão de garantir eleições livres e transparentes. Com isso, podem se frustrar as esperanças de tantos que as viram como saída para nos livrarmos de um presidente que o país não merecia, com todos que constituíram, à sua volta, um verdadeiro bando de oportunistas e malfeitores.
Não estaríamos precisando, nós também, de um apelo como o de Stephan Hessel, conclamando-nos a nos indignarmos – talvez com ainda mais força – mas principalmente a não deixarmos que a naturalização do intolerável esmaeça nossa indignação? Os velhos combatentes da longa luta contra a ditadura de 1964, que ainda estejam entre nós, não poderiam se unir num grito uníssono que fizesse com que essa mensagem penetrasse fundo em nossos corações?
Uma das marcas da campanha eleitoral do atual presidente era o gesto que fazia com as mãos, imitando uma arma. Ao longo dos seus quase quatro anos de mandato transformou esse símbolo em armas e munições de verdade, importadas e contrabandeadas em grande quantidade e distribuídas aos que enganou com mentiras difundidas pelas redes sociais que penetraram nos lares dos desavisados.
Isto torna esse apelo ainda mais urgente, diante de algo pior que pode acontecer, e que está certamente sendo gestado nas mentes doentias do presidente da República e de seus asseclas, se não conseguirem impedir as eleições: diante de resultados que lhes serão desfavoráveis, não terão escrúpulos em provocar o caos. E empurrarão o país para uma tragédia que ele nunca viveu: a do enfrentamento violento entre irmãos. E como somente um dos lados estará armado, esse enfrentamento poderá se transformar em massacre dos que se opõem aos que estão hoje no poder e de todos que eles detestam – como os que já vêm ocorrendo em alguns lugares do Brasil.
Mais ainda, se esse pesadelo vier a ocorrer, teremos que nos preparar para o que coroaria esses planos malignos: uma intervenção militar para reestabelecer a paz social, e a realização do “projeto de nação” dos militares que pretendem ser seus tutores, que tem até a data final de 2035 bem definida, tornado público em ato prestigiado pelo general que hoje ocupa a vice-presidência da República. Para a satisfação da “Casa Grande” e dos que, de dentro e de fora do país, dominam nossa economia e atualmente nossa vida política, pensando somente em lucros. E nos deixando, para depois que tudo isso se realizar, a tarefa hercúlea de reconstrução do que tínhamos conquistado vagarosamente no interregno democrático que estamos ainda vivendo, desde que nos livramos da ditadura militar imposta em 1964.
Temos ainda tempo de escapar disso tudo, ou já é tarde demais? São as questões angustiantes que nos resta colocar. Para responde-las, talvez valha a pena recordar o que fizemos e deixamos de fazer durante o mandato de um Presidente que era o mais despreparado e o menos confiável dos candidatos em 2018, e que tinha sido recusado por 61% dos eleitores, considerados as abstenções, os votos brancos e nulos e os dados ao seu opositor. Um presidente que, quase imediatamente depois de empossado definiu claramente, em evento na Embaixada do Brasil em Washington, o principal objetivo de sua gestão: “Destruir”.
O presidente anterior – que assumira o poder por meio de um autêntico golpe parlamentar-mediático – já tinha iniciado o desmonte de direitos. Ao lhe dar seguimento e o aprofundar, ele logo começou a provocar nossa indignação, e os crimes de responsabilidade que cometia justificaram pedidos de impeachment. Mas deixamos esses pedidos dormirem na mesa da presidência da Câmara. A imagem da crescente pilha de papeis deixou pouco a pouco de nos comover, até os pedidos chegarem a mais de centena e meia, para serem guardados nos arquivos da Câmara.
Como se os autores de cada pedido tivessem considerado que tinham feito o que podiam fazer e que, uma vez protocolados os pedidos, poderiam voltar para suas lutas e afazeres, nem eles nem nós, que os apoiávamos, pensamos que talvez fosse necessário pressionar os deputados, embora sua maioria tivesse sido eleita na mesma onda eleitoral do presidente da República (podemos dizer, como os espanhóis, que não nos representam?). Essa maioria elegeu então, para impedir o impeachment, um dos mais fiéis aliados do presidente, com a tarefa de também apressar o desmonte legislativo do país, como o faz até hoje. E este, para garantir os votos de seus colegas venais, abre-lhes as portas do erário, com operações espúrias como a das “emendas parlamentares”, e até inventando um “orçamento secreto”.
Mas nos acostumamos com tudo isso (com “a política como ela é”) e, aceita a impossibilidade do impeachment, muitas organizações da sociedade civil lançaram juntas uma campanha com o grito “Fora” – que chegou num banner até o pico do Everest – visando o presidente da República. Mas ao se apoiaram em grandes manifestações de rua, seus resultados se viram limitados pela imobilidade decorrente da “naturalização” do que se passava, pelo medo do contagio da Covid-19 nas aglomerações, e pelas dificuldades criadas pelo desemprego.
Diante disso, surgiu outro caminho para afastar o presidente: processá-lo por crimes comuns. Importantes organizações da sociedade civil elencaram então esses crimes em representações ao Procurador Geral da República, encarregado constitucionalmente de defender os interesses da sociedade. E o Senado encaminhou também a ele um longo relatório indicando os crimes do Presidente, após seis meses de trabalho de uma CPI que desvelou, para todo o país, tanto a corrupção no enfrentamento da Covid-19 como a associação mórbida do presidente com a pandemia, com ações e omissões que provocaram muito mais mortes do que a doença sozinha causaria.
Mas o Procurador Geral, que deveria denunciar ao Supremo Tribunal Federal os crimes comuns do chefe da nação, vendo-se em minoria na instituição que chefia usou sua independência funcional para não dar continuidade a nenhuma dessas representações. Caracterizou-se assim, claramente, que ele tinha sido ali colocado para ser uma segunda barreira de proteção do presidente da República, complementar àquela assegurada pelo presidente da Câmara.
Manchou com isso a história e a imagem de todo o Ministério Público, mas este também não conseguiu reagir, nem face ao risco de tornar-se cumplice de seu chefe no crime de prevaricação que cometia. E uma infeliz decisão liminar de um ministro da Corte Suprema em um dos processos nela tramitando – decisão essa ainda a ser ainda convalidada pelo plenário da Corte – garantiu a independência funcional do Procurador Geral, como se ela não fosse limitada pelo menos pela ética. Por sua vez o próprio Senado também não reagiu à altura, diante do total desrespeito a ele com o engavetamento de seu relatório. E nada fez, apesar de autorizado pela Constituição a processar e destituir o Procurador Geral.
Surgiu então na sociedade civil mais uma proposta: pressionar o Senado para que cumpra sua obrigação de afastar esse Procurador Geral. Mas a esta altura também o silêncio do Senado está correndo o risco de se “naturalizar” (podemos dizer que seus membros também não nos representam?), embora a estatura moral do Procurador Geral – tão baixa como a do presidente, mas ambas já “naturalizadas” – esteja se tornando conhecida até fora do país.
Assim, entre os poderes de República o único que parece ainda se negar a se autodestruir – se conseguir não convalidar a liminar que protegeu quem protege o presidente – é o Supremo Tribunal Federal. Mas sua lentidão para agir é aceita por todos, como o é a de todo o sistema Judiciário. O que se agrava com a entrada na Corte de novos ministros visceralmente ligados ao presidente, que já usam regras internas para imobilizá-la ainda mais, quando se trate de questionar o chefe da nação. E enquanto a sociedade em geral não ousa pressioná-la, dentro dela nada emerge que enfrente eficazmente o verdadeiro descalabro que o Brasil conhece, nem nas discussões nas salas de seu belo palácio envidraçado, construído quando a barbárie estava mais distante. Só podemos desejar que esse palácio não desmorone, se o presidente da República, que agride com frequência seus membros até com palavras improprias ao decoro de seu cargo, decidir repetir no próximo 7 de setembro as ameaças ao Supremo Tribunal Federal que já fez nessa data no ano passado.
Enquanto isso, de dentro da sociedade foram surgindo muitas outras ações de resistência – tantas eram as “boiadas” que o governo tentava passar, surpreendendo-nos continuamente. O problema é que cada ação se encerrava em seus objetivos particulares, sem se articularem. E muitas pediam a participação das pessoas somente através de um “sim” de apoio, no celular. Discutíamos tudo isso muito pouco entre nós, isolados que estávamos por causa da pandemia, apesar das novas possibilidades criadas para a intercomunicação à distância. Por seu lado os meios de comunicação, inclusive os alternativos, nos distraiam com análises de jornalistas e especialistas sobre o que se passava e com falas dos líderes políticos. E depois que se esgotou a necessidade de informação e orientação sobre a pandemia, passaram a competir entre si na apresentação de informações e de entrevistas de personalidades, ocupando o tempo que poderíamos usar pelo menos para a reflexão.
Mais recentemente, o espetáculo a nos entreter passou a ser o das espertezas e alianças dos políticos para vencer as próximas eleições. Mas pouco se fala, nas declarações de candidatos e nos seus programas, do que farão para que se firme o pacto civilizatório mais urgente no Brasil de hoje, para que não conheçamos o caos da anomia: que os criminosos, dos mandantes dos crimes aos seus executores, não permaneçam impunes.
Em meio a isso tudo nos indignamos e nos comovemos – no Brasil todo e fora dele – com o brutal assassinato de mais um agente da FUNAI e de um jornalista inglês, pelos predadores da Amazônia que o presidente da República protege e estimula. Bruno Pereira, o agente da Funai, conhecedor profundo da região e persistente em sua missão de defender os indígenas, era suficientemente corajoso para incomodar os bandos que o mataram e, barbaramente, o esquartejaram, a ele e ao jornalista. Querido pelos seus colegas de trabalho e pelos indígenas, cujas línguas falava, só era “malvisto”, como ousou dizer o presidente, pelo próprio presidente e seus apoiadores em seu objetivo de destruição. Dom Philips, o jornalista, experimentado e sereno em seu amor pela Amazônia, fazia com determinação o que todos os seus colegas bem-intencionados gostariam de poder fazer: informar seus leitores do que realmente se passa por detrás dos silêncios criminosos que protegem os que tiram proveito da destruição da natureza e do extermínio dos indígenas.
Que a crueldade do assassinato desses novos mártires da Amazônia aumente a intensidade de nossa indignação – e a força de nossa ação – na dimensão exigida pela gravidade do que vivemos hoje no Brasil.
*Chico Whitaker é arquiteto e ativista social. Foi vereador em São Paulo. Atualmente é consultor da Comissão Brasileira Justiça e Paz.
Fonte: A Terra É Redonda | Foto: Movimento dos “indignados”, Espanha.