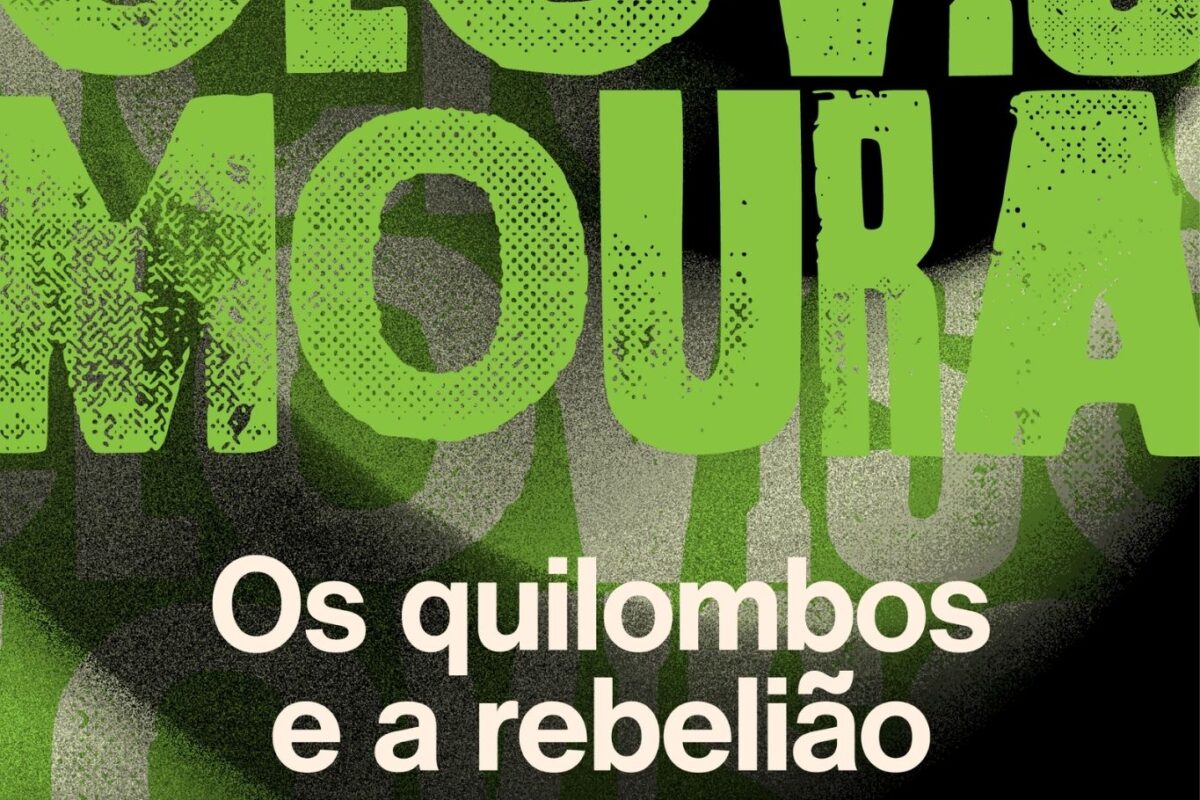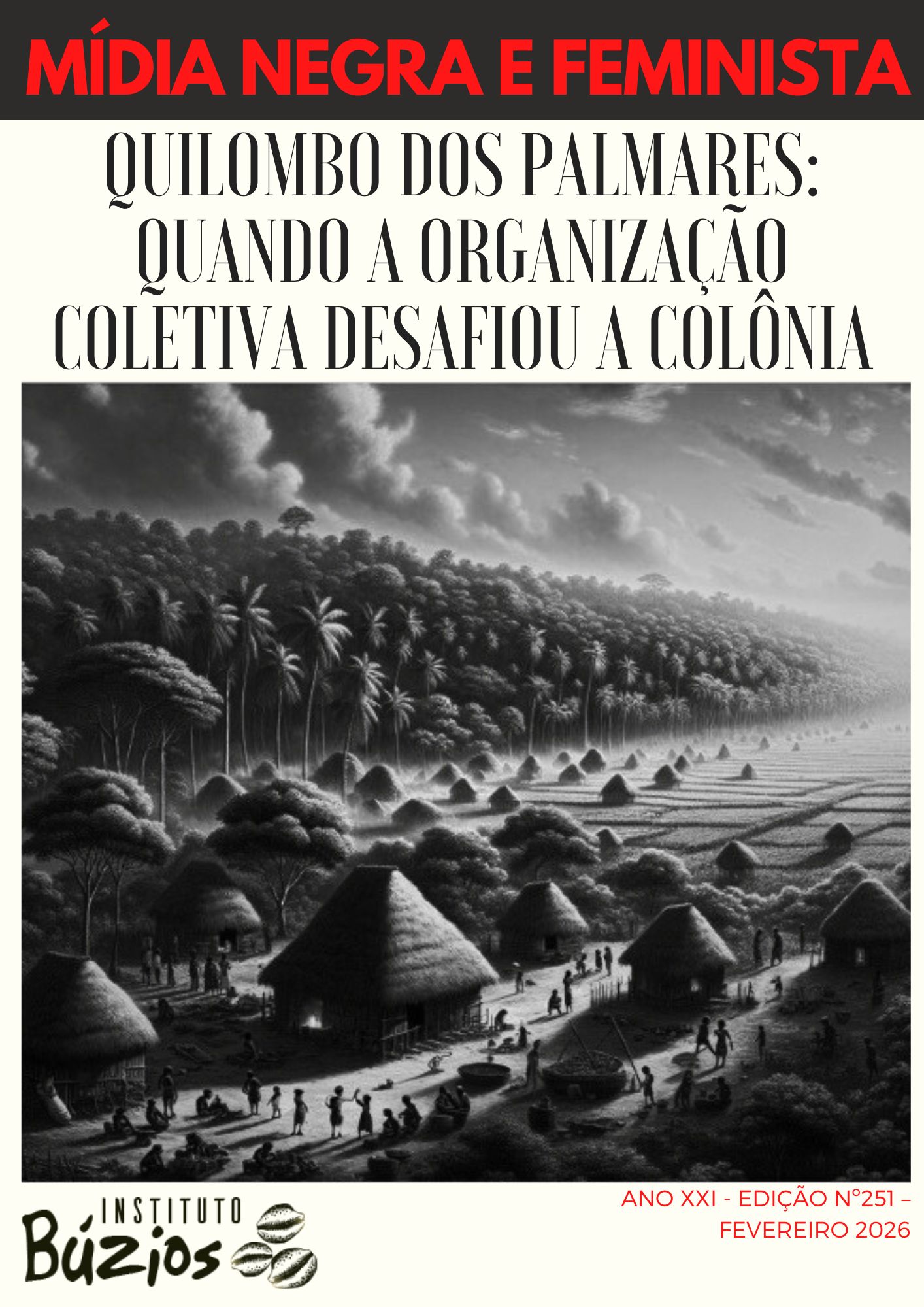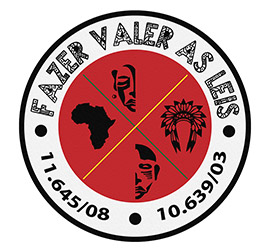[Coalizão Negra Por Direitos na Manifestação Sem Anistia e Contra a PEC da Blindagem, Av. Paulista-SP, 21.09.2025 – Foto: Mídia Ninja]
Movimentos sociais do Brasil: como a organização popular moldou a democracia

Quando pensamos nos direitos que temos e exercemos atualmente, pode parecer que eles sempre estiveram nas nossas mãos. O 13º salário, as férias remuneradas e até a vacina que tomamos de graça no posto de saúde.. Nada disso foi um presente concedido de bom grado por quem estava no poder — foi um direito conquistado. E foram os movimentos sociais do Brasil que ajudaram nesse papel.
É preciso ter em mente que esses movimentos não surgiram do nada, nem de boas intenções. Mas afinal, o que são movimentos sociais? Como lembra a professora e pesquisadora Maria da Glória Gohn, referência no campo dos movimentos sociais, eles são ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural, capazes de criar identidades, gerar saberes e propor novos rumos para a sociedade. Nascem do choque entre estruturas estabelecidas e a luta de grupos que compartilham uma identidade e exigem mudança.
No século passado, a imagem clássica dos ativistas de movimentos sociais era a do operário em greve ou do sem-terra ocupando um latifúndio. Hoje, a atuação se dá também nas redes sociais, nos tribunais e dentro dos próprios gabinetes do governo.
Esses movimentos não apenas reivindicam, mas educam, formam cidadãos e influenciam a cultura política. Por isso, entender a trajetória dos movimentos sociais do Brasil é entender a própria disputa de poderes no país, como esse modelo de organização se reinventou ao longo da história e, sobretudo, como nossa atuação coletiva pode moldar o futuro da democracia.
História dos movimentos sociais no Brasil: dos quilombos à redemocratização
Falar sobre a história do Brasil é falar sobre os movimentos sociais que impactaram a vida dos brasileiros, especialmente daqueles que sempre estiveram à margem e foram excluídos dos espaços de poder.
Rebeliões de escravizados, como a Revolta dos Malês, a resistência dos quilombos, o movimento abolicionista, a Guerra de Canudos e tantas outras mobilizações populares foram centrais para a formação da cidadania.
Essas lutas revelam que mudanças estruturais não ocorreram apenas pela vontade das elites, mas pela pressão social constante. Entender o papel dos movimentos sociais até hoje pode ser o caminho para compreender nossa atuação no futuro.
Movimentos sociais no século 20: das greves à Constituição de 1988
O século 20 foi um período difícil, atravessado por ditaduras, repressão e pela Guerra Fria, que polarizava o mundo e influenciava a política brasileira. Nesse cenário de censura e desigualdade, os movimentos sociais, muitas vezes colocados na ilegalidade pelas forças no poder, precisaram se reinventar para resistir.
Os movimentos sociais da Primeira República
No início do século 20, as reformas urbanas e sanitárias, promovidas de baixo para cima no Rio de Janeiro, resultaram na expulsão de moradores pobres, destruição de moradias e imposição forçada da vacinação contra a varíola. Sem diálogo com a sociedade na tomada de decisão, o resultado foi a Revolta da Vacina, em 1904.
A greve geral de 1917, protagonizada principalmente pelos trabalhadores das grandes capitais do país, consolidou as pessoas da classe operária como sujeitos políticos. Influenciados por ideais anarquistas e socialistas, os trabalhadores imigrantes lideraram um movimento que, mesmo sem conquistar todas as pautas, abriu caminho para direitos trabalhistas futuros, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943.

A Revolta da Vacina (1904) e as greves operárias mostraram a força da organização popular. Foto: domínio público
Nesse período, os movimentos sociais do Brasil também conseguiram outros avanços e protagonizaram momentos históricos: em 1927, a criação do Código de Menores elevou a maioridade penal para 18 anos. Até 1922, crianças a partir dos 9 anos eram jogadas nas cadeias comuns e sujeitas às mais diversas formas de violência.
O cangaço, ainda que visto como banditismo, refletia disputas por terra e justiça social no sertão. A Coluna Prestes, embora liderada por militares, tinha seus soldados compostos majoritariamente por camponeses e analfabetos, que de 1924 e 1927, marcharam denunciando a desigualdade pelo interior do país.
Era Vargas: conquistas trabalhistas e repressão aos movimentos sociais
A partir de 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência, cargo que exerceria até 1945. Nesse período, o Brasil passou por industrialização acelerada e urbanização. O êxodo rural levou multidões às periferias. Sem infraestrutura e com más condições de trabalho, as pautas operárias seguiram vivas.
Nesse cenário também ganharam destaque as sufragistas, que conquistaram em 1932 o direito ao voto feminino. Foi uma vitória histórica do movimento de mulheres, resultado de anos de mobilização em defesa da participação política.
O governo aprovou medidas importantes, como o salário mínimo em 1936 e a CLT em 1943, garantindo jornada de 8h, férias e estabilidade. Ao mesmo tempo, reprimiu sindicatos e partidos, controlou a imprensa pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e criminalizou opositores. Assim, os movimentos sociais conquistaram direitos relevantes, mas também enfrentaram censura e autoritarismo.
Anos 1950-1960: movimentos sociais entre democracia e golpe
A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, conflito que durou de 1939 a 1945, e o desgaste do projeto autoritário de Getúlio Vargas resultaram em um golpe de Estado e na deposição do presidente, em outubro de 1945. Com a queda de Vargas e a Constituição de 1946, os movimentos sociais retomaram força. O direito à greve foi restabelecido, mas a desigualdade permanecia.
A luta pela terra, um movimento que há séculos marca a realidade brasileira, ganha força. As Ligas Camponesas, vinculadas ao Partido Comunista Brasileiro, surgem em 1955, denunciando a concentração fundiária do país.

As Ligas Camponesas, surgidas em 1955, denunciaram a concentração de terras no Brasil. Foto: Memorial das Ligas Camponesas
O Movimento de Educação de Base (MEB), fundado em 1961 com apoio da Igreja Católica, inspirou-se em Paulo Freire e ajudou a promover a educação de comunidades rurais no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país por meio de aulas transmitidas pelo rádio. Esse processo fortaleceu sindicatos e pautas como a reforma agrária.
Mas o cenário da Guerra Fria e o apoio dos Estados Unidos, intensificaram a luta das elites conservadoras do país contra os movimentos sociais do Brasil. A “ameaça comunista” vira o pretexto para o golpe militar que, em 1964, tira do poder o presidente João Goulart, cujo governo propunha uma série de reformas de base para combater a desigualdade.
Ditadura militar e redemocratização: a reorganização dos movimentos sociais
A ditadura militar (1964-1985) mergulhou o Brasil em 21 anos de repressão, violência e censura. Segundo o economista e sociólogo Vinícius Caldeira Brant, em ensaio publicado no livro São Paulo: o povo em movimento, foi esse clima de terror que deu origem a movimentos de base pautados pela solidariedade, como associações de moradores, clubes de mães e comissões de fábrica.
A esquerda seguiu caminhos distintos: enquanto alguns grupos optaram pela luta armada clandestina, outros mantiveram o foco na organização local. O movimento estudantil ganhou destaque com a Passeata dos Cem Mil, em 1968, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, a Teologia da Libertação, representada por figuras como Leonardo Boff e Frei Betto, inspirou as Comunidades Eclesiais de Base, que atuavam nas periferias com uma leitura do evangelho voltada à libertação dos oprimidos.

Passeata dos Cem Mil, em 1968, símbolo da resistência estudantil contra a ditadura. Foto: Evandro Teixeira
Com o colapso do “milagre econômico” nos anos 1970 e a abertura lenta do regime a partir de 1974, no governo Geisel, os movimentos sociais passaram a se articular em torno do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Em 1975, surgiram organizações como as que pediam anistia para presos políticos. A revogação do AI-5 em 1978 permitiu que greves, como a dos metalúrgicos do ABC Paulista, se tornassem símbolos da retomada das mobilizações.
Na década de 1980, esse cenário resultou na criação do Partido dos Trabalhadores (PT) e de centrais intersindicais. Conquistas como a Lei da Anistia e a campanha das Diretas Já (a partir de 1983) pavimentaram a redemocratização. Em 1984, surgiu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), apoiado pelas Comissões Pastorais da Terra.
A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, consagrou direitos sociais históricos. Na mesma década, ganharam força os novos movimentos sociais, centrados em identidades e pautas como direitos dos povos originários, negros, feministas, LGBTQIA+ e ambientais. Como aponta o sociólogo Arim Soares do Bem em artigo na revista Educação & Sociedade, o período foi um dos mais “frutíferos do ponto de vista da pluralização” dos movimentos sociais.
Apesar dos avanços, a exclusão social persistiu, e as políticas neoliberais dos anos 1990 levaram à institucionalização de muitas lutas por meio de ONGs e organizações da sociedade civil. Até hoje, a efetivação de direitos conquistados segue sendo um campo de tensão entre o Estado e as demandas populares.
Movimentos sociais no século 21: novas formas de atuação
No século 21, os movimentos sociais passaram a dialogar mais diretamente com o Estado, conquistando espaço em conselhos e na formulação de políticas públicas. Essa institucionalização ampliou vitórias históricas e foi além das mobilizações em torno das classes sociais, buscando romper com estruturas culturais impostas há séculos.
A Reforma Psiquiátrica, consolidada na Lei 10.216 de 2001, foi fruto de uma histórica mobilização do movimento antimanicomial. Essa mudança rompeu com a lógica de confinamento e segregação daqueles que sofrem com distúrbios mentais, historicamente trancafiados em manicômios e hospícios pelo país.
Em 2002, fruto desse movimento, o Ministério da Saúde estabeleceu os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e, em 2011, foi criada a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Essas mudanças ajudaram a sistematizar, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), o acolhimento e tratamento não hospitalar para os pacientes.

A luta antimanicomial foi responsável por diversos avanços nos campos da saúde pública e inclusão social, mas ainda hoje enfrenta desafios. Foto: reprodução
No âmbito das lutas contra a desigualdade social, o Bolsa Família, criado em 2003, durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-líder sindical e figura histórica do Partido dos Trabalhadores, foi resultado dessa mobilização. O programa, ainda em funcionamento, ajuda na redistribuição de renda e combate à miséria e à fome.
A Lei de Cotas, aprovada em 2012, também foi uma consequência da atuação histórica de movimentos sociais da população negra e indígena. A legislação foi responsável por democratizar o ensino superior, promovendo a inserção de grupos historicamente marginalizados e excluídos, transformando o perfil majoritariamente embranquecido das universidades públicas.
Entre o final do século 20 e os primeiros anos da década de 2000, também houve um crescimento na homologação de terras indígenas, embora muitas ainda careçam de reconhecimento.
Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, atendendo a pressão histórica do movimento LGBTQIA+, reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar e, em 2013, assegurou o direito ao casamento civil. A partir de 2019, o mesmo tribunal equiparou os crimes de homofobia e transfobia ao racismo, pautas históricas e urgentes no Brasil, o país que mais mata transsexuais em todo o mundo.
Essa proximidade dos movimentos sociais em relação ao Estado também trouxe riscos: a burocratização e o afastamento das bases. Ainda assim, movimentos como o MST e o MTST mantiveram ações diretas, enquanto coletivos urbanos denunciaram precarização do trabalho, racismo estrutural, violência policial e crise ambiental.

Em 2024, em virtude das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, que deixaram milhares de pessoas desabrigadas, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ocupou um antigo prédio do INSS, abandonado em Porto Alegre. Foto: reprodução
A expansão das redes sociais reconfigurou o cenário: movimentos feministas, negros, indígenas e LGBTQIA+ alcançaram visibilidade inédita, transformando hashtags em atos de rua e disputando narrativas políticas em tempo real. O século 21 evidenciou, portanto, que os movimentos sociais seguem como atores decisivos na construção e na defesa da democracia.
Junho de 2013: quando as ruas viraram palco de uma nova política
Em junho de 2013, o Brasil viu uma explosão de protestos liderados por jovens que transformaram as ruas no principal palco de disputa política. O que começou como uma reação ao aumento das passagens de ônibus rapidamente se tornou um levante contra todo o sistema político, sob o slogan “eles não nos representam”.
Para a pesquisadora Maria da Glória Gohn, em artigo publicado em 2024, junho de 2013 representou um “marco muito importante na cena sociopolítica brasileira de protestos”. O movimento destacou-se não apenas pelo seu caráter massivo, mas pelas novas formas de ação, performances e estratégias que introduziu. As redes sociais substituíram os tradicionais métodos de convocação, tornando-se o principal eixo organizador dos protestos.

Protestos de junho de 2013 transformaram as ruas no palco central da política. Foto: reprodução
Um legado em disputa: as contradições que reconfiguraram a política
Para Gohn, a verdadeira chave para entender junho de 2013 está em suas contradições. O movimento não foi um bloco único, mas um campo de forças em conflito, que abriu espaço tanto para pautas progressistas quanto conservadoras. A grande virada ocorreu quando setores da direita, que já existiam mas estavam à margem, souberam se organizar para capturar o descontentamento popular.
Para ela, “na realidade, são contramovimentos e não movimentos sociais”. Enquanto movimentos sociais históricos lutam por direitos, esses contramovimentos surgiram como reação organizada, com agendas muitas vezes antidemocráticas.
Aproveitando a crise de representação, grupos de direita e conservadores usaram a pauta anticorrupção para ganhar protagonismo. Essa estratégia pavimentou o caminho para os protestos pró-impeachment de Dilma Rousseff (PT) entre 2015 e 2016.
O processo culminou na eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e no esvaziamento dos espaços institucionais de participação. Paralelamente, os contramovimentos ganharam força, resultando nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Em 2015 e 2016, manifestações levaram milhares de pessoas às ruas, pedindo o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Em 2016, as ocupações de escolas por estudantes secundaristas contra a reforma do ensino médio e a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Teto de Gastos mostraram a continuidade do ativismo juvenil, inspirando-se nas táticas de organização horizontal de junho de 2013. As mobilizações evidenciaram a capacidade de resistência dos movimentos sociais mesmo em contextos políticos adversos.
O legado de junho é assim duplo: fortaleceu novas formas de ação coletiva, mas também permitiu a reorganização de uma direita que tensionou as bases da democracia brasileira.
O que a trajetória dos movimentos sociais ensina ao Brasil de hoje
A história do Brasil é escrita pela ação coletiva. Dos quilombos às ocupações de escolas, passando pelas Diretas Já e pelas jornadas de junho de 2013, fica claro: nenhum direito importante foi concedido sem luta. A conquista sempre veio da organização popular.
Os movimentos sociais são mais que protestos, são termômetros da sociedade e motores da democracia. Eles revelam contradições, ampliam vozes silenciadas e forçam o Estado a responder. Quando as instituições falham em representar, as ruas e as redes se tornam espaços de reinvenção política.
A história recente comprova que direitos conquistados podem ser revertidos. A PEC do Teto de Gastos e as reformas trabalhista e previdenciária demonstraram como conquistas históricas podem ser desmontadas. Esses retrocessos reforçam a necessidade de vigilância constante e organização popular para defender as garantias sociais.
O futuro da democracia dependerá dessa capacidade de mobilização. Num país de profundas desigualdades, a participação popular é condição para uma sociedade verdadeiramente justa. Afinal, a transformação real começa na base, com gente comum se organizando por direitos comuns.
E nessa história, todos temos um papel. Conhecer as lutas do passado não é só entender o presente, é se preparar para construir o futuro.
Relacionados
Movimentos populares promovem manifestações por soberania e direitos
Movimentos Brasil Popular, Povo Sem Medo, o Fórum das Centrais Sindicais e o Grito dos Excluídos organizam manifestações por todo o país
Não é a primeira vez que um ex-presidente e militares são julgados por tentativa de golpe
No contexto da década de 1920, houve perigoso envolvimento militar em revoltas conhecidas como “tenentistas”, que se opuseram à candidatura e depois à presidência do mineiro Arthur Bernardes