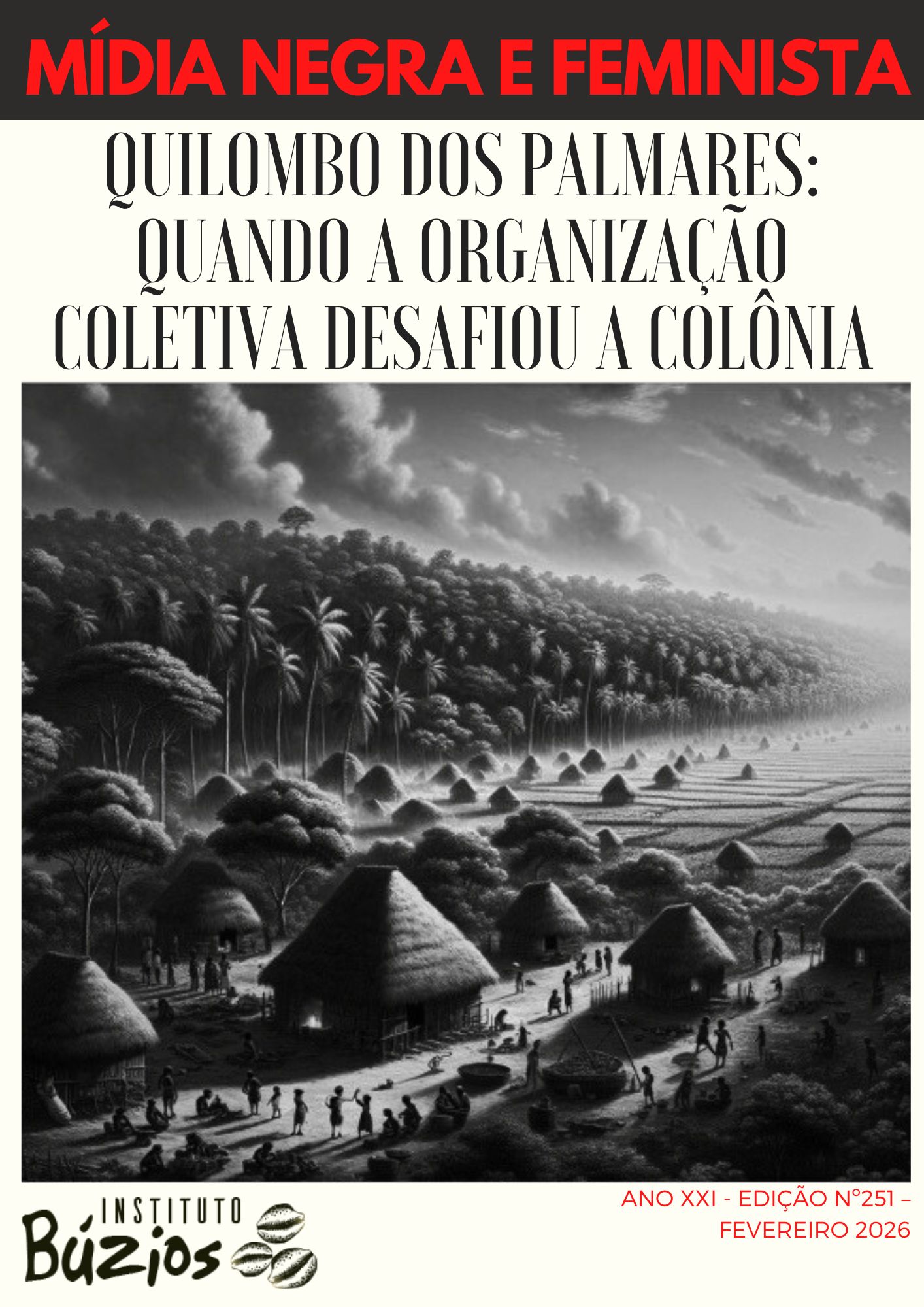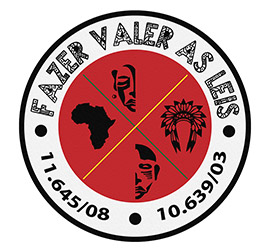Por Samuel Vicente Dias de Freitas
Pesquisas e “tribunais” virtuais frequentemente generalizam experiências individuais, confundindo-as com fenômenos sociais mais amplos e revelando fragilidades metodológicas e teóricas.
Um brasileiro é designado preto, negro, moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, cabra — ou qualquer outro eufemismo; e o que todo mundo compreende imediatamente, sem possibilidade de dúvidas, é que se trata de um homem-de-cor, isto é, aquele assim chamado descende de africanos escravizados. Trata-se, portanto, de um negro, não importa a gradação da cor da sua pele. Não vamos perder tempo com distinções supérfluas… (Nascimento, 2016, p. 39).
O presente texto não se propõe a algo extremamente inovador, mas a fazer uma crítica e discordâncias abertas de teorias, métodos e abordagens de pesquisas recentes sobre relações étnico-raciais. Também não se pretende usufruir da lógica de “cancelamento” típica das redes sociais, e sim construir um “debate acadêmico aberto”. Enquanto sociólogo, mas especialmente como professor, me preocupo com o debate público e com a opinião pública, e por isso estou disposto a tentar fazer o que dentro do campo das Ciências Sociais é descrito como “sociologia pública”.
O debate sobre “parditude” tem se expandido das redes sociais para o campo acadêmico, mas com problemas de análise. Uma crítica recorrente é a ideia de que o pardo não encontra lugar nem na branquitude, nem na negritude, sendo rejeitado pelo “movimento negro”. Além disso, seriam usados apenas como números estatísticos para inflar a categoria “negro”, o que configuraria uma segregação dentro de um grupo já segregado. Essa crítica se baseia em dois pontos: (1) os “tribunais raciais” das redes sociais, onde negros mais retintos julgam publicamente quem pode ou não ser considerado negro; e (2) as bancas de heteroidentificação, vistas como instâncias que colocam pardos sob suspeita de fraude nas cotas raciais.
Os estudiosos da parditude usam casos particulares dessas situações, sobretudo no X (antigo Twitter), como se fossem representativos do todo, tratando-os como “estudos de caso”. O problema é que isso generaliza ações individuais de negros retintos como se fossem expressão do “movimento negro”. Surge, então, a questão: interações virtuais podem ser tomadas como movimentos sociais? Até que ponto se tratam de pessoas reais e não bots? Por um lado, de fato tem havido um “sistema de avaliação informal” de quem é negro o suficiente para se autodeclarar como tal [1]. Por outro, há fragilidade teórica e metodológica nessas análises, faltando robustez e clareza na forma como esse fenômeno é tratado sociologicamente.
É o caso do trabalho de Bueno e Sant Clair (2023), no qual foram apresentados vários tweets que giravam em torno de “entrar ou não em Wakanda” — ou seja, ser escuro o suficiente para isso — para exemplificar o ponto da deslegitimação de pessoas mais escuras (pretas) em relação às mais claras (pardas) via internet. O estudo também incluiu processos seletivos invalidados a partir das bancas de heteroidentificação. Contudo, do ponto de vista qualitativo, não se detalha a “etnografia” desses casos. As pessoas “deslegitimadas” e as “deslegitimadoras” não foram “entrevistadas” para se entender o sentido dado a essas ações sociais. E do ponto de vista quantitativo, não houve a aplicação de um “questionário”, a utilização de “dados estatísticos” sobre o quão representativo é esse fenômeno dentro do grupo social “pardo” para que se pudesse fazer generalizações e buscar tendências. Além disso, existe outro problema que se dá em decorrência de falta de revisão bibliográfica (seja ela saturada ou exaustiva) adequada de determinados conceitos e do campo de estudos sobre classificações raciais.
Vale mencionar ainda uma certa confusão entre o público e o privado, pois tais exposições e “tribunais” nas redes sociais são confundidos com bancas de heteroidentificação de cotas raciais de concursos públicos e vestibulares: ao se criticar um, automaticamente se faz a crítica do outro e o igualam, como uma realidade espelhada. Para além disso, parece haver a partir desses exposed’s uma metodologia de apresentação de “histórias exemplares” — histórias/casos tão característicos e típicos que ajudam a elucidar o argumento de que tal fato é geral e não específico. Não há, no entanto, embasamento em dados quantificáveis relacionados aos casos de deslegitimação das autodeclarações, e o que se pretende a generalizar se esfacela no ar dada a falta de solidez. Parece que muitos desses estudos ou “vídeos” na internet tem como princípio o primado da experiência pessoal, da empiria, sobre a teoria. Logo, o debate gira em torno de dois eixos: “lugar de fala” e “representatividade”. Essas pesquisas, assim, transitam entre “estudos de caso” e “histórias exemplares” para tentar dar conta da falta de representatividade dos pardos nesses espaços de poder nos quais o “movimento negro” – ou determinados negros – é posto como algoz. Ao mesmo tempo, tais “pesquisadores” se valem das suas próprias experiências pessoais e de alguns casos específicos para poder fazer uma crítica ao movimento negro e aos tribunais virtuais. É possível identificar aqui um problema real, porém abordado de uma forma pouco ou nada científica do ponto de vista das Ciências Sociais.
Sobre as cotas raciais, é preciso se autodeclarar como tal, seja preto ou pardo. Contudo, diante da possibilidade de fraudes, foram instituídas as bancas de heteroidentificação – um trabalho árduo de objetivar um processo subjetivo que é a autodeclaração racial. A avaliação das fraudes é baseada em critérios fenotípicos, ou seja, nas características físicas das pessoas — o que Oracy Nogueira chama de “marca” ou “cor” e se difere da racialização feita pelo Estado nos EUA, que se vale da “origem”. Assim, não basta ter parentes negros: é necessário manifestar fenótipos negróides para ser sujeito da política de cotas. Essas bancas são compostas por docentes, discentes, técnicos administrativos, entre outros, e o formato varia de acordo com a instituição de ensino superior que institui as cotas. Cada universidade tem autonomia para construir seu mecanismo antifraude segundo suas próprias regulações internas.
Na Unicamp, por exemplo, as bancas são compostas também por representantes de movimentos sociais, do movimento negro e da sociedade civil organizada. Preza-se pela diversidade de gênero e étnico-racial, e os integrantes passam por formação específica para realizar a análise fenotípica dos candidatos optantes [2]. Há a possibilidade de recurso da decisão da banca sem a necessidade de recorrer à judicialização. Nesse caso, outra banca, composta por outros integrantes, é formada para avaliar o recurso do optante. Desde a implementação das cotas étnico-raciais em 2020 na Unicamp, 5.604 pessoas passaram pelas bancas de heteroidentificação. Desse total, 338 candidaturas não foram validadas – ou seja, 6% do montante. Dentre os não validados, 208 recorreram das decisões (61,5%), e, destes, 82 foram aprovados após o recurso, correspondendo a 39,4% dos que entraram com pedido de revisão.
Os números não são extraordinários ou estarrecedores, mas o resultado de uma política de ação afirmativa que, embora possa apresentar problemas e oportunidades de aprimoramentos, é levada a sério pela comunidade acadêmica e pelo movimento negro. Considerando a quantidade de candidatos não aprovados desde a implementação da política, mesmo após recurso – 126 pessoas –, isso representa apenas 2,2% de todos os optantes entre 2020 e 2024, conforme relatório da Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH) da Unicamp [3].
Número de candidatos optantes por cotas raciais de 2020 à 2023

Os números apresentados a partir de um caso concreto ajudam a exemplificar o argumento de que há seriedade na implementação da política, desde que haja transparência na composição das bancas e diálogo em sua construção. Existem, sim, casos de fraude, que precisam ser analisados um a um e combatidos. Contudo, não se pode utilizar exemplos isolados ou uma seleção arbitrária de casos para descredibilizar uma política pública séria, construída a muitas mãos. Ao meu ver, a política das bancas de heteroidentificação poderia ser facilmente resolvida se, antes, fosse enfrentado outro problema: o acesso universal ao ensino superior público e de qualidade, sem o advento do filtro social representado pelo vestibular. Enquanto isso não acontece, porém, não só a política de cotas – seja ela racial, social, PCD, econômica, etc. – é necessária, como também o são os meios para evitar fraudes.
A apresentação deste caso concreto não é casual. No trabalho de Bueno e Reis (2025) – “Desmentido Racial: o impacto subjetivo da negação vivida por pessoas pardas ao narrarem sua experiência racial” – são apresentados dados estatísticos com o intuito de comprovar o não funcionamento das bancas de heteroidentificação.
Contudo, os frequentes indeferimentos de pessoas pardas por bancas de heteroidentificação têm evidenciado que esse agrupamento político-administrativo não assegura para os pardos, na prática, o usufruto pleno dos direitos afirmativos nem o pertencimento simbólico e social a um coletivo racial negro. Um exemplo emblemático ocorreu em 2024, no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF e TO), em que 72% dos candidatos autodeclarados pardos foram reprovados pelas comissões de heteroidentificação. Dos 2.010 convocados, apenas 545 tiveram sua autodeclaração reconhecida como legítima. (DIREÇÃO CONCURSOS,2025) As bancas de heteroidentificação têm como objetivo fundamental coibir fraudes no acesso às ações afirmativas. […] No programa Bolsa Família, por exemplo, em março de 2025, o Governo Federal cancelou 4,1 milhões de benefícios sob suspeita de inconsistência cadastral. Esse número representa cerca de 0,03% do orçamento total do programa, que gira em torno de R$ 13,6 bilhões.(INFOMONEY,2024) […] Ou seja, em duas das maiores políticas sociais do país, as fraudes reais identificadas não ultrapassaram 1% do valor total dos programas — e ainda assim foram tratadas com cautela, investigação e ampla defesa (Bueno e Reis, 2025).
As analogias entre as bancas de heteroidentificação e outras políticas públicas são inadequadas. Primeiro, porque a banca não é uma política pública em si, mas um mecanismo das cotas raciais, que dependem da autodeclaração (subjetiva), ao contrário de programas como o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, baseados em comprovação documental (objetiva). Segundo, porque os objetivos são distintos: transferência de renda a famílias pobres, no caso dos auxílios, e reserva de vagas em concursos, no caso das cotas, em que a banca atua para evitar fraudes. Terceiro, porque há uma desproporção de escala: compara-se políticas nacionais que alcançam milhões de pessoas com um concurso específico para Analista e Técnico Judiciário, que oferecia apenas 9 vagas, mais cadastro de reserva, das quais 20% eram destinadas às cotas. Esse concurso, com 2.010 candidatos e salários entre R$ 8.529,65 e R$ 16.035,69, era altamente concorrido, o que pode justificar tentativas de fraude. Assim, o exemplo é inadequado tanto qualitativa quanto quantitativamente, além de que a pesquisa de Bueno e Reis (2025) não apresenta dados sobre o funcionamento interno das bancas (composição, objetivos, procedimentos).
A questão posta não é apenas como se entende o negro, mas também o branco no Brasil. O que antes era visto como “branco social” — pessoas com alguma ascendência negra e resquícios de traços negróides, que se classificavam como mulatos, morenos ou mestiços, mas ainda eram tratadas como brancas — hoje é deslocado para a categoria pardo. Essa mudança ocorre porque o movimento negro passou a rejeitar essas categorias intermediárias, vistas como parte do mito da democracia racial. Esse deslocamento produziu uma fratura na identidade do “mulato freyreano”, agora reinterpretado a partir da ideia de parditude, em busca da consolidação de uma nova identidade.
Há, portanto, uma disputa sobre o sentido da categoria pardo: os pardistas querem separá-la da negritude, recorrendo a uma leitura que inclui não só o fenótipo (“marca”), mas também a origem familiar, cultural e socioeconômica. Para isso — segundo Bueno e Reis (2025) — utilizam o conceito de hipodescendência, entendido como a vinculação de mestiços à ascendência de menor status, ou seja, a negra (como nos EUA, com a “one drop rule”). Segundo eles, este seria o sistema classificatório que vigora no Brasil hoje. No entanto, esse conceito não é tradicional na literatura brasileira sobre relações raciais: aparece apenas quatro vezes no livro “Rediscutindo a Mestiçagem”, de Kabenguele Munanga, e sempre em referência aos EUA. Ou seja, me parece que está se criando um “espantalho” em torno desse assunto, atribuindo ao movimento negro um conceito e um entendimento racial que não lhe são próprios, além de uma acusação de importação de conceitos e pautas dos EUA.
O entendimento de pretos e pardos enquanto negros, pelo movimento negro brasileiro, deriva do avanço de pesquisas estatísticas e demográficas sobre indicadores sociodemográficos (renda, escolaridade, ocupação, etc.), que encontraram números muito similares entre pretos e pardos. Esses grupos foram aglutinados na categoria de “não-brancos”, em oposição aos brancos, que apresentavam quase o dobro de renda, escolaridade e outros indicadores em relação aos não-brancos [4]. Com isso, os movimentos negros, munidos de dados estatísticos, puderam formular e propor políticas públicas baseadas na comprovação quantitativa da desigualdade entre brancos e não-brancos. É nesse contexto que o movimento negro decide fazer essa engenharia política de aglutinar pretos e pardos na categoria negros — dadas as suas condições sociopolíticas e sociodemográficas similares —, deixando de utilizar a categoria “não-brancos”.
A separação dessa categoria política favorece a discursos da extrema-direita voltados a invalidar a política de cotas e outras políticas públicas que unem pretos e pardos do ponto de vista demográfico. Foi o que ocorreu, por exemplo, recentemente, quando o ex-vereador Fernando Holiday (ex-MBL) utilizou esse argumento em um debate com Jones Manoel, ao ser questionado no Podcast Três Irmãos sobre a violência policial atingir mais os negros do que os brancos [5].
Quando vocês da esquerda e da imprensa querem falar de negros, vocês mudam os critérios. Quando a pessoa é um pouquinho mais clarinha, se ela vai se inscrever no sistema de cotas, não é mais negra. Ela é considerada branca. Se ela morre numa troca de tiros, aí não. Opa! É negro. […] Boa parte dos policiais brasileiros, inclusive em São Paulo, são negros. Você está tentando importar dos Estados Unidos uma realidade que não é nossa. Lá, sim, nós poderíamos até discutir, sim, um racismo sistemático da polícia majoritariamente branca, até porque a população negra lá é bem definida e bem segregada. Mas o ponto aqui, e eu quero trazer de volta essa questão da aparência, e que o Jones tenta se desviar, é que o sistema de cotas racial é extremamente nefasto (PodCast Três Irmãos, 3:10-5:20, 2025, grifo meu).
Existe aqui uma similaridade estarrecedora entre o discurso de um ex-vereador do MBL — que foi um dos principais agentes do golpe parlamentar contra Dilma Rousseff — e esse movimento pardista que vem surgindo via internet e buscando algum enraizamento e legitimidade na academia. Daí me pergunto, e falo diretamente com as pessoas bem-intencionadas e que estão um pouco perdidas nesse debate: é isso que queremos? Queremos ressuscitar um discurso racista que foi combatido e, de alguma forma, superado no campo acadêmico, mas que ainda tem certo enraizamento social no debate público? Acredito que, dentro desses coletivos que reúnem pessoas pardas, existam experiências complexas em relação ao racismo, assim como casos de deslegitimação por parte de pessoas mais retintas, mal-intencionadas nas redes, quanto à sua autodeclaração. Acredito, sim, que pessoas com perspectivas de uma determinada “supremacia preta” — sejam elas inspiradas em uma visão garveysta radical ou em um panafricanismo tosco, que não faz sentido algum para a realidade brasileira — possam ter sido ofensivas e jocosas. Mas essas experiências não podem servir como limitador que afaste pessoas pardas do movimento negro.
Isto posto, digo a uma determinada parcela do movimento negro que acredita em um “essencialismo negro” e que criar uma supremacia negra vai tornar possível acabar com o racismo e a supremacia branca: repensem essa postura. Ela espelha, de forma deturpada, as mesmas críticas que fazemos aos brancos e não emancipa os negros de fato. Assim como Frantz Fanon, tenho certo receio do essencialismo negro. Não o vejo como categoria natural, biológica, mas como uma construção histórica e colonial, pois foi o branco quem criou aquilo que entendemos como negro. O que o negro faz é se radicalizar e criar a negritude para dizer por si o que é ser negro, combater o racismo e também definir o que é o branco. Aos pardos, é importante dizer: negro é quem se declara. Portanto, sua autodeclaração deve ser respeitada e levada a sério [6]. Vocês, que são afrodescendentes e têm traços negróides, são sujeitos das políticas públicas de reparação histórica, como as cotas raciais. É importante lembrar que muitos desses debates começaram com a importação, sem grandes mediações, do conceito de “colorismo”, e com o entendimento de que quanto mais claro fosse o negro, mais privilégios ele teria [7]. Essa leitura, baseada na ótica do privilégio, é totalmente errônea quando confrontada com a realidade concreta do número de pretos e pardos mortos pela polícia, em que pardos morrem mais que pretos, percentualmente e proporcionalmente – como demonstram os dados compilados pela Rede de Observatórios da Segurança em 2021 [8].
Gráfico 2: População negra morta pela polícia e população negra dos estados.

Quando o dado é desagregado, é possível observar que, em todos os estados analisados pela pesquisa, o percentual de pardos mortos pela polícia é maior do que a proporção da população parda presente nesses estados.
Tabela 1: Proporção da população e mortes pela polícia por raça/cor por Estado – 2020 (em %).

O colorismo é mais uma técnica do racismo que busca separar os mais claros dos mais escuros, e um movimento negro enfraquecido é um prato cheio para o fascismo branco. O essencialismo negro não é apenas um problema, mas também um instrumento utilizado pelo neoliberalismo como commodity dentro desse mercado do “Black Money”, uma forma de alienar os negros a partir da ideia de realização de direitos por meio do mercado.
Ademais, o horizonte utópico dos negros parece estar se reduzindo a uma monarquia negra baseada na exploração de minérios – onde Wakanda se assemelha a uma cópia “melhorada” das monarquias europeias, com um pouco menos de desigualdade. Uma civilização que possuía tecnologia suficiente para bater de frente com alienígenas fortemente armados, mas que não lutou contra a colonização de seus vizinhos e irmãos de cor, preferindo se fechar ao mundo frente à possibilidade de auxiliar nas lutas anticoloniais, contra o racismo e a dominação branca.
Acredito que demoramos demais para levar esses movimentos pardistas a sério, e muito disso se deve à ausência de autocrítica de um determinado setor do movimento negro que enxerga no neoliberalismo progressista uma possibilidade, mesmo que remota, de emancipação e de fim do racismo. Existe também um movimento negro que busca um determinado “nacionalismo negro” e um projeto de retorno à África que mais se aproxima de uma recolonização do continente — lembremos o que foi o processo de volta dos negros norte-americanos para a Libéria e as diferenciações de classe e status criadas mesmo dentro de um grupo com ancestrais em comum [9]. Esses, sim, têm uma visão deturpada do que é ser negro no Brasil, buscam referencial no negro estadunidense e se utilizam do negro africano como totem. Também constituem um problema para um movimento negro sério e comprometido.