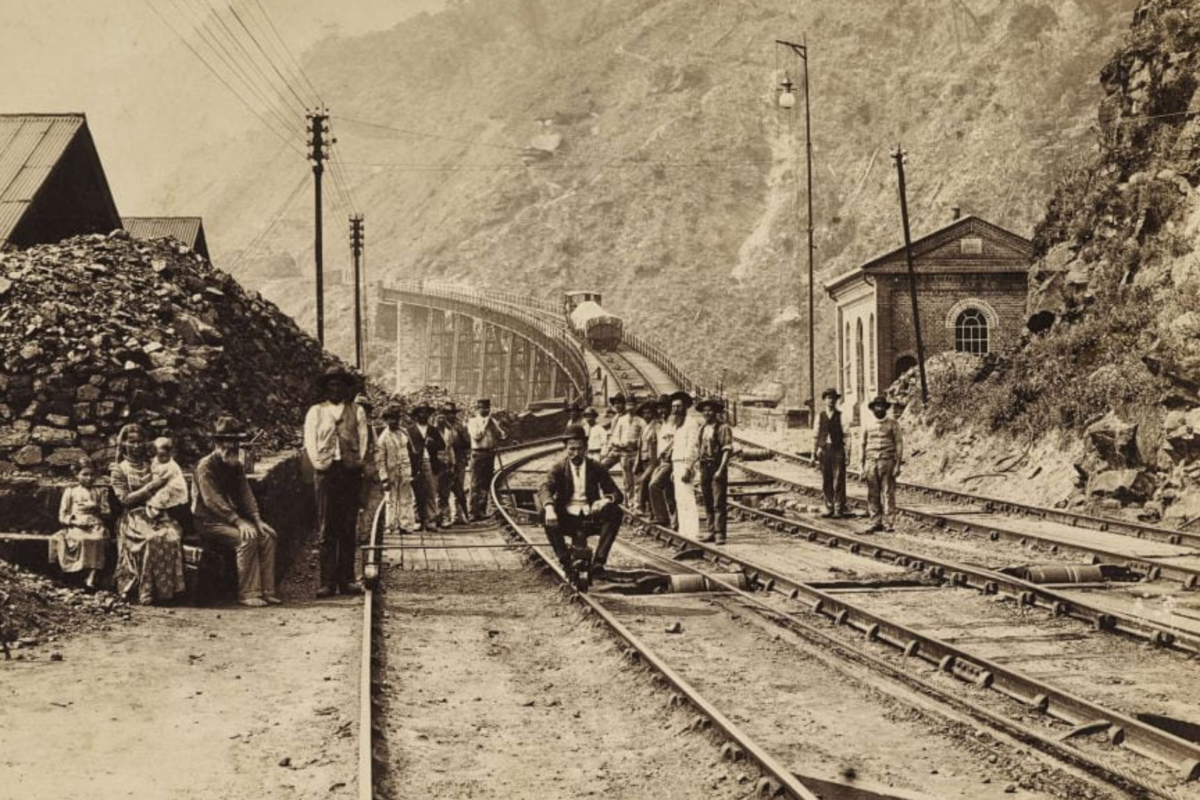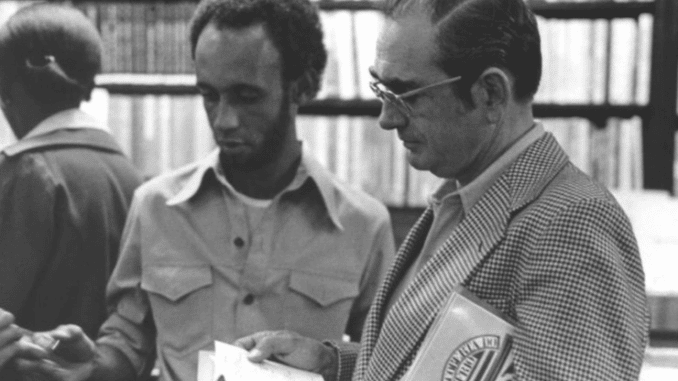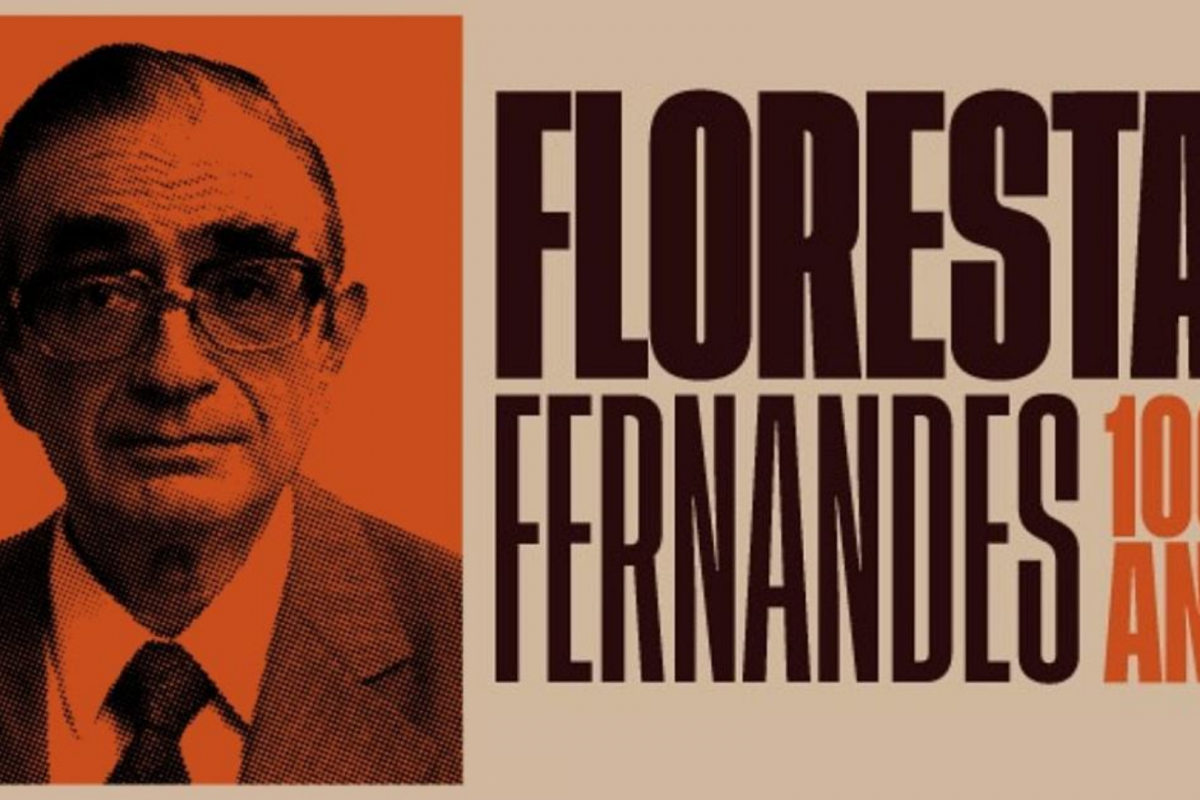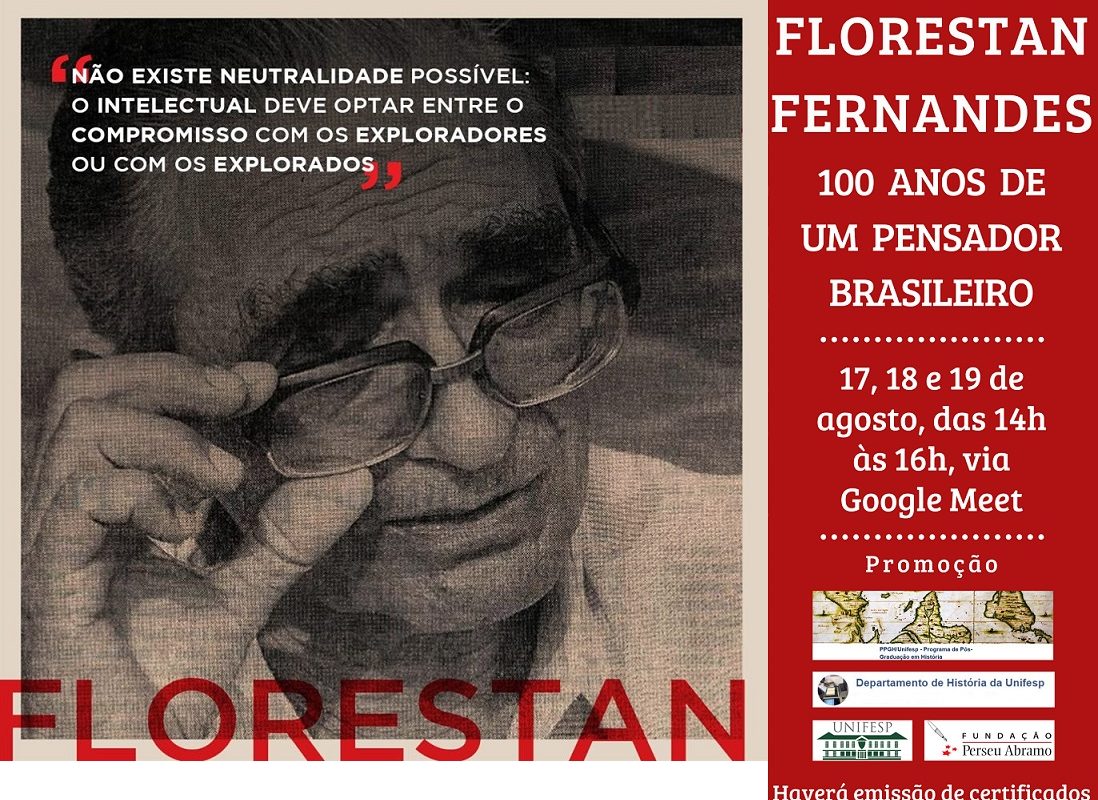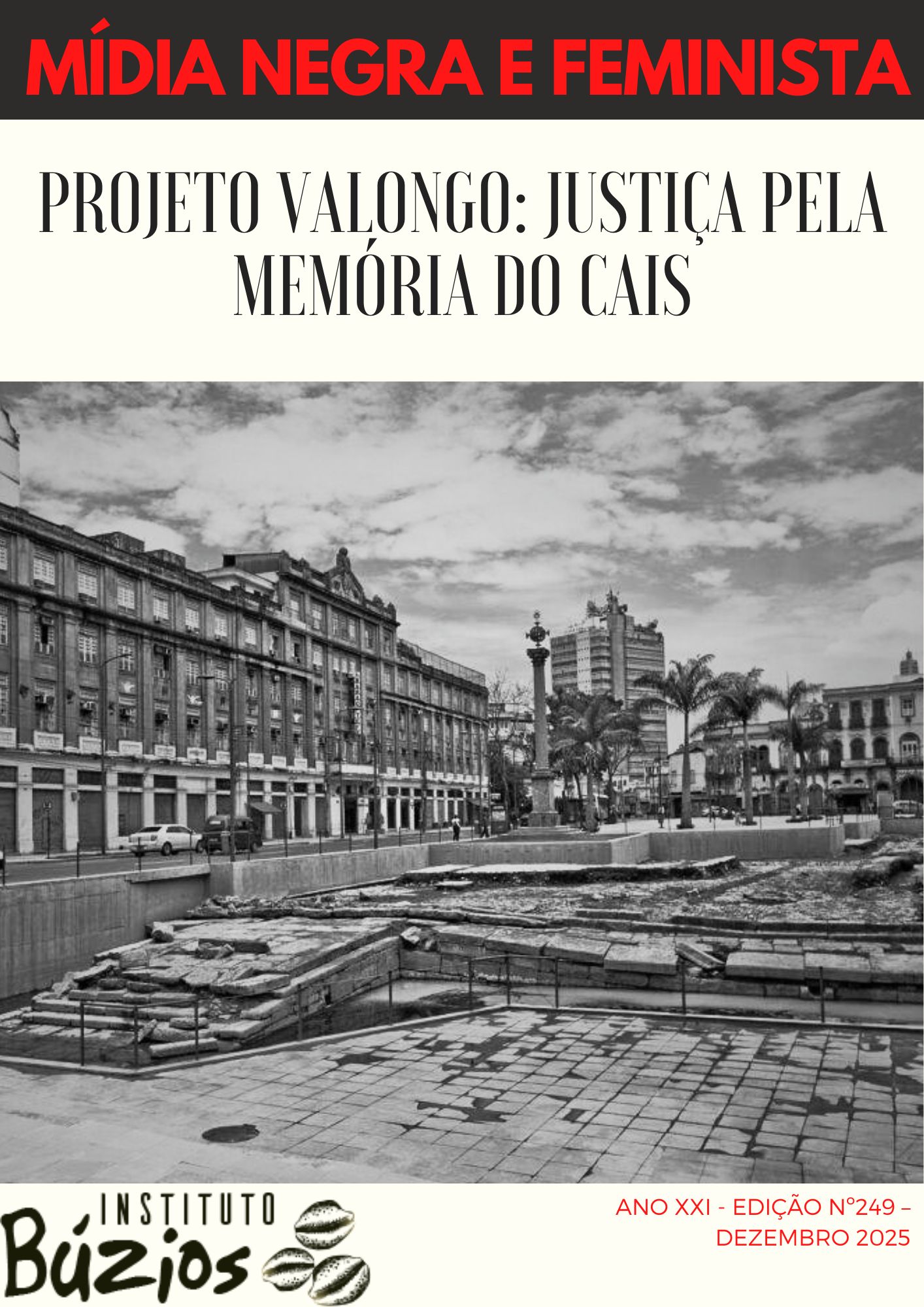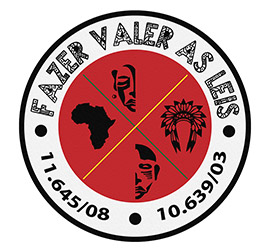[Presença dos negros na arte brasileira: período colonial à atualidade. Crédito da imagem: Sergio Astral]
Por Francisco Teixeira
Considerações sobre o livro de Florestan Fernandes
1.
O negro no mundo dos brancos, publicado em 1972, é uma coletânea de artigos e ensaios escritos por Florestan Fernandes ao longo da década de 1960. A obra reúne reflexões fundamentais sobre as relações raciais no Brasil, abordando de forma crítica o mito da democracia racial e o racismo estrutural presente na sociedade brasileira.
Os ensaios reunidos nessa obra têm origem em uma pesquisa realizada por Florestan Fernandes, em parceria com Roger Bastide, na cidade de São Paulo, entre 1951 e 1955. Essa pesquisa integrou um amplo projeto internacional patrocinado pela UNESCO, que buscava compreender por que o Brasil, apesar de sua história de escravidão, não havia desenvolvido um racismo aberto e violento como o dos Estados Unidos. Influenciada pela ideia do mito da democracia racial, a instituição acreditava que o Brasil poderia servir como um “modelo” de convivência racial pacífica.
Os resultados da pesquisa patrocinada pela UNESCO contrariaram as expectativas da própria instituição. A ideia de que a colonização brasileira teria criado, em suas terras tropicais, um verdadeiro paraíso racial não foi confirmada. A visão edênica da escravidão, defendida por Gilberto Freyre, mostrou-se insustentável à luz dos dados empíricos.
Ainda que de forma bastante geral, vale a pena apresentar a formulação freiriana da ideia que deu origem à chamada democracia racial.
A paixão de Gilberto Freyre por seu objeto de estudo é expressa no prefácio de sua obra monumental Casa-Grande & Senzala, onde ele declara que “Nenhum estudante russo, dos românticos, do século XIX, preocupou-se mais intensamente pelos destinos da Rússia do que eu pelos do Brasil […]. E dos problemas brasileiros, nenhum me inquietou tanto quanto o da miscigenação” (Freyre, 2001, p. 44–45).
Essa ênfase na miscigenação tem sua razão de ser. Para Gilberto Freyre, foi graças a ela que se tornou possível a colonização do Brasil. Segundo o autor, o português sempre foi um povo aberto ao convívio com as mais diversas etnias, desprovido de preconceitos raciais.
Em estilo característico de prosa literária, ele afirma que “nenhum povo colonizador, dos modernos, excedeu ou sequer igualou nesse ponto aos portugueses. Foi misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços que uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas e competir com povos grandes e numerosos na extensão de domínio colonial e na eficácia de ação colonizadora. A miscibilidade, mais do que a mobilidade, foi o processo pelo qual os portugueses compensaram-se da deficiência em massa ou volume humano para a colonização em larga escala e sobre áreas extensíssimas. Para tal processo preparara-os a íntima convivência, o intercurso social e sexual com raças de cor, invasoras ou vizinhas da Península, uma delas, a de fé maometana, em condições superiores, técnicas e de cultura intelectual e artística, à dos cristãos louros” (Freyre, 2001, p. 83-84).
Essa leitura de Gilberto Freyre é partilhada por Caio Prado Júnior, para quem a “mestiçagem, signo sob o qual se formou a etnia brasileira, resulta da excepcional capacidade do português em cruzar com outras raças. É a uma tal aptidão que o Brasil deveu a sua unidade, a sua própria existência com os característicos que são os seus. Graças a ela, o número relativamente pequeno de colonos brancos que veio povoar o território pôde absorver as massas consideráveis de negros e índios que para ele afluíram ou nele já se encontravam; pôde impor seus padrões e cultura à colônia, que mais tarde, embora separada da mãe-pátria, conservará os caracteres essenciais de sua civilização” (Prado Junior, 2007, p.10-17).
Para Gilberto Freyre, o papel da miscigenação no processo de formação da sociedade brasileira vai além de sua mera função como fator de criação de mão-de-obra para a produção açucareira. Diferentemente dos Estados Unidos – onde a ideologia racial não permitiu nenhum lugar para uma pessoa mestiça –, no Brasil, as relações sexuais entre o povo dominador e o explorado não ocorreram sob uma atmosfera de pura hostilidade.
As animosidades existentes ente os sexos teriam sido abrandados, segundo ele, pela prática de casamentos entre homens brancos e mulheres negras. Por isso, a miscigenação aparece, aos olhos de Gilberto Freyre, não como expressão de exploração sexual da mulher escravizada pelo senhor branco, mas, ao contrário, como indicativa de integração e harmonia social.
2.
É lícito, contudo, registrar que Gilberto Freyre não ignora completamente o caráter abusivo das relações sexuais entre os brancos e as mulheres de cor. Mais importante do que o aspecto opressivo dessas relações, diria ele, foi a necessidade sentida pelos colonos de constituírem família. Por conta disso, tais relações teriam sido, ainda segundo Freyre, adocicadas, gerando “zonas de confraternização entre vencedorese vencidos, entre senhores e escravos” (Freyre, 2001, p.46)
A criação de zonas de confraternização teria implicado, no entendimento de Freyre, numa redução da distância social entre senhores e escravos. Os mestiços libertos, em sua grande maioria, eram filhos dos senhores donos de terras e fazendas. Beneficiaram-se não apenas da influência dos pais para alcançar posições de destaque na burocracia do Estado, como também herdaram parte de suas fortunas.
As relações entre senhores e mulheres escravas – sejam na forma de casamentos ou de amigações –, teriam, segundo Gilberto Freyre, agido “poderosamente no sentido de democratização social no Brasil”. Entre os filhos mestiços, legítimos e mesmo ilegítimos, nascidos dessas uniões, “subdividiu-se parte considerável das grandes propriedades, quebrando-se assim a força das sesmarias feudais e dos latifúndios do tamanho de reinos” (Freyre, 2001, p.46).
É dessa leitura freyriana que a vem a ideia de que, no Brasil – como já afirmava Joaquim Nabuco – “a escravidão […] não azedou nunca a alma do escravo contra o senhor […] nem criou entre as duas raças o ódio recíproco que existe naturalmente ente opressores e oprimidos (Nabuco, 2000, p.16).
Consequentemente, a sociedade brasileira seria governada pelo que se convencionou chamar de democracia racial, fundamentada na ideia de que, no Brasil, a miscigenação – conforme entendia Gilberto Freyre – não resultou em uma separação radical entre brancos e mestiços, como ocorreu nos Estados Unidos.
Não sem razão, a UNESCO, no início dos anos cinquenta do século passado, como visto anteriormente, adotou como missão transformar o Brasil em um laboratório de pesquisa para mostrar ao mundo que a história da sociedade brasileira, com sua suposta democracia racial, poderia ser utilizada como resposta aos horrores do nazismo e do Holocausto.
Os dados da pesquisa patrocinada pela UNESCO revelaram uma realidade muito distante daquela idealizada pelos epígonos da democracia racial. A equipe de pesquisa, que contava com nomes renomados como Charles Wagley, Thales de Azevedo, René Ribeiro, Florestan Fernandes, Costa Pinto, Roger Bastide, Oracy Nogueira, Aniela Ginsberg, Virgínia Bicudo, entre outros, constatou elevados níveis de desigualdade social entre as populações branca e negra, além da presença marcante de atitudes e estereótipos racistas.
Um exemplo emblemático desses estereótipos foi o caso da dançarina afro-americana Katherine Dunham no Hotel Esplanada, em São Paulo, onde havia feito uma reserva durante a excursão de sua Companhia pelo Brasil. Tendo sua hospedagem recusada, a bailarina fez uma denúncia vigorosa, que causou grande comoção social e resultou na criação da Lei Afonso Arinos, em junho de 1951.
Neste mesmo ano, Oracy Nogueira testemunhou um episódio de racismo semelhante ao que sofreu a bailarina afro-estadunidense. Ele relata que num restaurante, na cidade de Sã Paulo, “encontravam-se, em diferentes mesas, além de outros fregueses, dois mulatos, bem-vestidos, e um branco, de classe operária, em traje de trabalho, sendo que a todos o garçom servia com a mesma atenção. Os dois mulatos eram tratados com familiaridade, tanto pelo gerente do estabelecimento como pelo empregado; e, de fato, já haviam sido vistos, ali, em ocasiões anteriores, sendo, portanto, fregueses habituais da casa. Pouco depois, entrou um rapaz preto que, pelo traje e pelo aspecto físico, estava em condições idênticas às do freguês branco, já referido. O garçom não lhe permitiu que ocupasse um lugar, à mesa, o que fez com que o rapaz, ofendido, lhe perguntasse: “Aqui é o Esplanada?!”. A situação mostra, pois, o seguinte: um indivíduo de cor, em igualdade de condições com um branco, foi preterido; porém, dois outros indivíduos de cor, de classe superior à do mesmo branco, foram admitidos” (Nogueira,2006, p.302).
Nesse episódio, Oracy Nogueira mostra que, no Brasil, o preconceito racista tende a se manifestar de forma individual, levando o sujeito a tentar compensar sua aparência fenotípica por meio da ostentação de aptidões e de sua condição social. Eis aí característica particular do racismo no Brasil. Diferentemente do racismo de origem, de raça, como o é nos Estados Unidos, no Brasil, racismo depende da cor da pele.
Como explica Darcy Ribeiro, “negro é “o negro retinto, o mulato já é o pardo e como tal meio branco, e se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca”. Por isso, a “definição brasileira de negro não pode corresponder a um artista ou a um profissional exitoso. Exemplifica essa situação o diálogo de um artista negro, o pintor Santa Rosa, com um jovem, também negro, que lutava para ascender na carreira diplomática, queixando‐se das imensas barreiras que dificultavam a ascensão das pessoas de cor. O pintor disse, muito comovido: “Compreendo perfeitamente o seu caso, meu caro. Eu também já fui negro” (Ribeiro, 1995, p. 225).
Vê-se, assim, que a ideia da democracia racial não resistiu aos fatos revelados pelo Projeto UNESCO, tampouco à promulgação da Lei Afonso Ariano, elaborada para combater as manifestações isoladas e intermitentes de racismo contra indivíduos.
3.
É nesse contexto que deve ser lido O negro no mundo dos brancos, de Florestan Fernandes. Dos diversos ensaio que compõem essa coletânea, destacou-se, aqui, primeiro capítulo dessa obra, que tem como título “Aspectos da questão racial”.
Nesse ensaio, Florestan Fernandes inicia com algumas considerações gerais sobre os aspectos que devem ser observados para a construção de uma verdadeira democracia racial. Em termos gerais, essa construção exige a fundação de uma democracia substantiva, ou seja, a efetivação de uma “democracia na esfera econômica, na esfera social, na esfera jurídica e na esfera política”.
Ciente e de que essa não é uma tarefa simples, Florestan Fernandes destaca os obstáculos que devem ser enfrentados para a concretização de uma verdadeira democracia racial. Para ele, “é mister que se saiba clara, honesta e convictamente o que tem banido – e continuará a banir – a equidade nas relações entre brancos, negros e mestiços. A chamada ‘tradição cultural brasileira’ possui muitos elementos favoráveis à constituição de uma verdadeira democracia racial” (Fernandes, 2007, p. 40).
Mas, afinal, em que consiste essa necessidade de compreender “o que tem banido e continuará a banir a equidade nas relações de brancos, negros e mestiços entre si”? Para enfrentar esse desafio, é preciso, segundo o autor: (i) Reconhecer o racismo como um problema estrutural, real e histórico, rompendo com o mito da chamada democracia racial; (ii) promover uma profunda transformação nas instituições sociais, de modo a garantir oportunidades reais para negros e brancos; (iii) fazer com que o negro assuma o protagonismo de sua própria história, deixando de ser objeto de políticas para se tornar sujeito de sua própria transformação.
A superação desses obstáculos não é tarefa fácil. Exige, para começar, o enfrentamento da condição de “objeto” à qual o negro foi historicamente submetido. A sua transformação em sujeito histórico implica esforço e resistência contra aquilo que Abdias Nascimento chama de “bastardização da cultura afro-brasileira”. Essa degeneração esvaziou os conteúdos originais das diversas culturas africanas, empobrecendo-as e transformando-as em objeto de folclorização.
A folclorização do sincretismo religioso afro-brasileiro é uma das expressões mais evidentes dessa “bastardização”. Longe de resultar de uma troca espontânea entre culturas distintas, o sincretismo não foi uma fusão autêntica e harmoniosa – como tantas vezes é romantizado. Ao contrário, como destaca Abdias Nascimento, tratou-se de uma forma de resistência utilizada pelos negros para se defenderem das investidas da religião dominante: o catolicismo.
O sincretismo foi, portanto, o único meio de manter seus santos sob o véu dos deuses católicos. Não havia outra saída. Afinal, “como poderia uma religião oficial, locupletada no poder, misturar-se, em um mesmo plano de igualdade, com a religião do africano escravizado, que era não só marginalizada e perseguida, mas até destituída de sua qualidade fundamental de religião?” (Nascimento, 2016, p. 134). Por isso, “os escravos se viram assim forçados a cultuar, aparentemente, deuses estranhos, mas, sob o nome dos santos católicos, guardaram, no coração aquecido pelo fogo de Xangô, suas verdadeiras divindades: os orixás” (Nascimento, 2016, p. 133).
Além dessa adulteração forçada, a cultura afro-brasileira passou por um crescente processo de folclorização. Deliberadamente ou não, eventos culturais afro-brasileiros são muitas vezes celebrados mais como entretenimento do que como expressão de resistência ou afirmação de direitos. Permite-se – e até se aplaude – que o negro desfile o samba na avenida, mas se nega a ele o acesso às esferas do poder político, econômico e social. Assim, os produtos da criatividade religiosa e artística afro-brasileira são tratados como simples curiosidades etnográficas, “destituídas de significado artístico ou ritual”, como denuncia Abdias Nascimento.
Segundo ele, para que sua produção se aproximasse da “arte sagrada” ocidental, o artista negro precisava esvaziar sua obra de seu conteúdo africano e seguir os modelos branco-europeus (Nascimento, 2016, p. 144).
4.
É nesse sentido que a cultura africana passou por um processo de fetichização no Brasil: transformou-se em objeto de consumo para o deleite de um público alienado. Sua condição de espetáculo e de folclore representa não apenas uma exploração lucrativa por parte da sociedade dominante, mas também um meio velado de desprezo racial. Trata-se de um desprezo dissimulado que se manifesta como racismo – um racismo que, segundo Oracy Nogueira, configura-se como “preconceito de cor”.
Trata-se de uma forma preconceito, diria Oracy Nogueira, onde “o dogma da cultura prevalece sobre o da raça”. Nesse tipo de racismo “o negro só toma consciência aguda de sua cor nos momentos de conflito, quando é humilhado ou tem sua aparência racial lembrada por outrem, podendo passar longos períodos sem vivenciar situações explícitas de discriminação (Nogueira, 2006, p. 300).
Esse tipo de preconceito difere substancialmente daquele presente nos Estados Unidos, onde, segundo Oracy Nogueira, o “dogma da raça” prevalece. Lá, a consciência racial é contínua e permanente, marcada por três tendências: (a) uma preocupação constante com a autoafirmação, (b) uma atitude defensiva permanente e (c) uma aguda sensibilidade a qualquer referência, explícita ou implícita, à questão racial (Nogueira, 2006, p. 300).
No Brasil, por outro lado, a “bastardização” das culturas africanas contribuiu para esvaziar o sentimento de autoafirmação racial. Como afirma Abdias Nascimento, ao ser digerida como simples folclore, a cultura africana transformou-se “em instrumento mortal no esquema de imobilização e fossilização de seus elementos vitais. Uma sutil forma de etnocídio” (Nascimento, 2016, p. 147).
Esse processo de fossilização tem como base justamente a forma intermitente do preconceito de cor. Um preconceito que impede a formação de uma verdadeira consciência racial. Não por acaso, Florestan Fernandes considera essencial que, para a construção de uma democracia verdadeiramente substantiva, o racismo seja reconhecido como problema estrutural, histórico e real – rompendo, assim, com o mito da democracia racial.
Mas essa não é uma tarefa simples. O reconhecimento do racismo como problema estrutural exige o enfrentamento direto do que Florestan Fernandes chamou de “preconceito de não ter preconceito”: uma forma de preconceito negado no discurso, mas praticado nas relações sociais concretas. Como ele mesmo afirma: “O que há de mais evidente nas atitudes dos brasileiros diante do ‘preconceito de cor’ é a tendência a considerá-lo algo ultrajante (para quem sofre) e degradante (para quem o pratica)” (Fernandes, 2007, p. 41).
Essa polarização de atitudes é justamente uma característica do preconceito de cor – conceito criado por Oracy Nogueira para diferenciar o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Lá, o racismo é baseado na origem racial (“preconceito de origem”); aqui, na aparência física (“preconceito de marca”), como a cor da pele, os traços fenotípicos e a textura do cabelo.
Onde o preconceito é de marca, diz Oracy Nogueira: “põe-se ênfase no controle do comportamento dos indivíduos do grupo discriminador, de modo a evitar a susceptibilização ou humilhação dos indivíduos do grupo discriminado; onde é de origem, a ênfase está no controle do comportamento dos membros do grupo discriminado, de modo a conter a agressividade dos elementos do grupo discriminador” (Nogueira, 2006, p. 299).
5.
Assim, para evitar constrangimentos ou humilhações a pessoas negras, os brancos acabam moralmente constrangidos a disfarçar seu preconceito. É esse o pano de fundo do argumento de Fernandes, segundo o qual, aos olhos da sociedade, é degradante praticar atos racistas.
Essa dissimulação tem um fundamento histórico. Para Florestan Fernandes, a escravidão e a dominação senhorial minaram os princípios cristãos de igualdade e dignidade humana, forçando os católicos a adotarem uma visão de mundo incompatível com os ideais da fé cristã (Fernandes, 2007, p. 41).
Com o desmantelamento da ordem escravista-tradicionalista, surgiram novas formas de comportamento mais compatíveis com o ideal cristão. Contudo, essas formas ainda carregam uma ambiguidade moral: condena-se o racismo no discurso, mas mantém-se o preconceito na prática. Essa contradição dá origem ao que Fernandes denominou de “preconceito de não ter preconceito”.
Conclui-se, assim, que: “Do ponto de vista, e em termos da posição sociocultural do branco, o que ganha o centro do palco não é o preconceito de cor. Mas uma realidade moral de não ter preconceito” (Fernandes, 2007, p. 42).
Ao negar a existência do preconceito de cor, essa moralidade aparente contribui para a reprodução das desigualdades raciais, perpetuando estruturas herdadas do passado. É uma forma de condenação social que se mantém viva em função da sobrevivência de traços da antiga ordem servil, cuja consequência histórica foi a limitada e desigual universalização do trabalho livre no Brasil.
Sem o reconhecimento do racismo como problema estrutural, a sociedade brasileira continuará a repetir os erros do passado. Uma simples condenação moral não basta: ela apenas empurra a população negra à resignação diante dos males de uma sociedade que insiste em disfarçar seu preconceito com a aparência de neutralidade.
Como afirma Florestan Fernandes: “Isso equivale, do ponto de vista e em termos da condição social do negro e do mulato, a uma condenação à desigualdade racial, com tudo o que ela representa num mundo histórico construído pelo branco e para o branco” (Fernandes, 2007, p. 43).
*Francisco Teixeira é professor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Autor, entre outros livros, de Pensando com Marx (Ensaios) [https://amzn.to/4cGbd26]
Referência

Florestan Fernandes. O negro no mundo dos brancos. São Paulo, Global, 2015, 306 págs. [https://amzn.to/4mA8viS]
Bibliografia
FREYRE, Gilberto. Gasa-Grande & Senzala: introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil – I. Rio de Janeiro: Editora Record. 2001.
NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 (Grandes Nomes do pensamento brasileiro).
NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de racismo mascarado. – São Paulo: Perspectiva, 2016.
NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: Sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 19, n. 1,2006.
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia (FBC). São Paulo: Brasiliense, 2007.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Fonte: A Terra é Redonda.