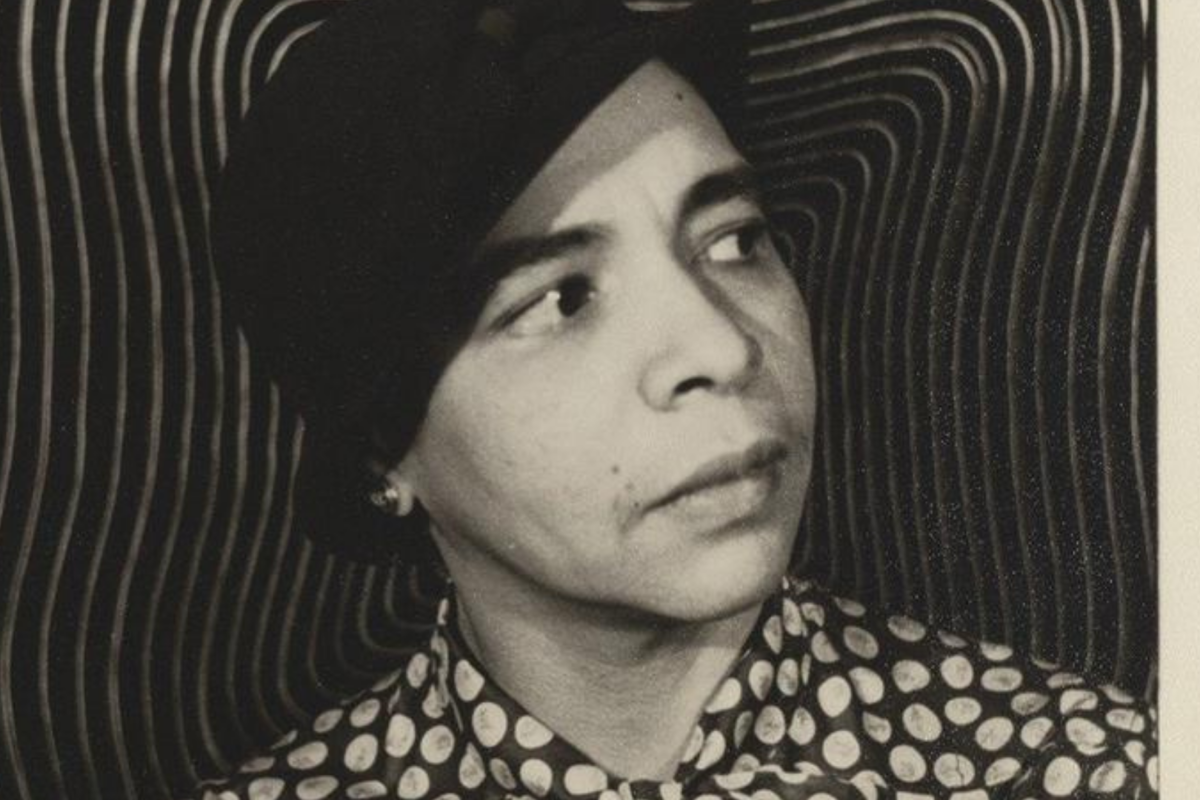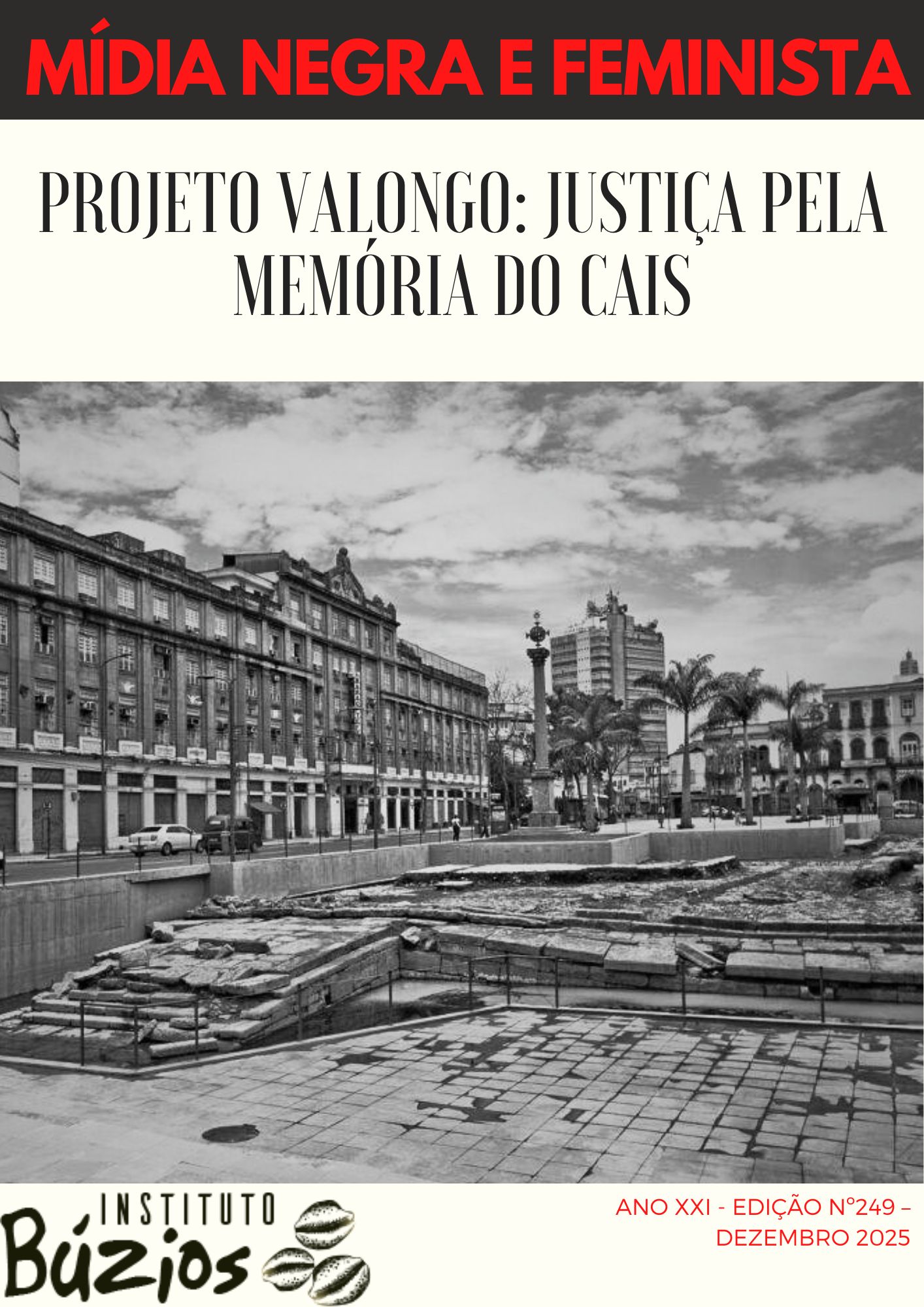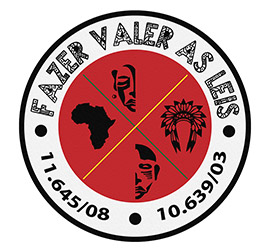Por Érico Andrade Marques de Oliveira e Lia Vainer Schucman
Pretos e pardos compartilham experiência de violência; instituir nova categoria é inflexão perigosa na luta antirracista.
A ideia de parditude não é lastreada conceitualmente no extenso debate sobre a questão racial brasileira e é politicamente regressiva, sustentam autores. A nova categoria proposta, ainda que apresentada sob o pretexto de dar visibilidade a experiências subjetivas de pessoas racializadas, fragmenta o campo negro do país e é funcional aos interesses da branquitude por enfraquecer o pacto coletivo que sustentou a construção das ações afirmativas e a denúncia do racismo institucional.
Discutir a categoria pardo no Brasil se tornou inescapável. Ela está presente nos registros estatais, nas políticas públicas, nas dinâmicas institucionais e, sobretudo, nas disputas simbólicas e identitárias que estruturam as relações raciais no país.
Ignorá-la ou tratá-la como categoria residual nos distancia das tensões vividas cotidianamente por milhares de pessoas que se reconhecem ou são socialmente identificadas como pardas. Não há mais tempo para negligenciar esse debate. O Brasil já pagou caro quando nos furtamos a discutir com reacionários e nos refugiamos nos muros seguros da universidade.
Um dos temas mais recorrentes e delicados nesse debate dizem respeito ao sentimento de não pertencimento vivenciado por sujeitos que, embora racializados, não se reconhecem plenamente como brancos, negros ou indígenas. Muitas dessas pessoas descrevem sua posição social como ambígua e marcada por exclusões simbólicas de ambas as margens do espectro racial, como se houvesse simetria entre o racismo das pessoas brancas que lhes é dirigido e um eventual comentário de uma pessoa negra que questiona o entendimento da pessoa parda a respeito de sua negritude.
Esse sentimento, real e legítimo, tem sido frequentemente mobilizado para tensionar critérios de pertencimento racial, especialmente em contextos como as bancas de heteroidentificação em processos seletivos vinculados às políticas de ação afirmativa.
Há, de fato, um crescente ressentimento de parte desses sujeitos quando são desclassificados por não se enquadrarem nos parâmetros fenotípicos exigidos, o que, em alguns casos, configura um equívoco de julgamento ao desconsiderar a racialização social a que estão submetidos. Com efeito, as políticas públicas têm erros na sua implementação e precisam ser aperfeiçoadas, mas não deslegitimadas.
No entanto, ao lado dessas situações concretas, se observa também o uso estratégico da ambiguidade identitária por indivíduos brancos que recorrem à autoidentificação como pardos para se desresponsabilizarem diante dos privilégios herdados da branquitude. A afirmação genérica de “ser misturado” opera, nesses casos, como um subterfúgio discursivo que busca dissolver os marcadores da branquitude na fluidez da mestiçagem, apagando a posição social de vantagem que a brancura historicamente confere no Brasil.
Em nenhum momento, a brancura no Brasil é pensada em uma dimensão sanguínea, mas ela está diretamente ligada aos marcadores de fenótipo e tem uma dimensão relacional e regional inegável. Isto é, não há um protótipo absoluto ou um modelo de ser negro ou branco —em um país mestiço como o Brasil, a minoria das pessoas são branquíssimas ou negras retintas—, mas essas categorias se relacionam em determinados contextos regionais nos quais uma pessoa é negra ou branca em relação às outras que pertencem a um mesmo contexto.
Pessoas que são socialmente lidas como brancas e que passam a se reconhecer como pardas fomentam uma forma de evasão da branquitude porque desconsideram o caráter contextual da raça no Brasil.
Veja a evolução das questões sobre cor ou raça no Censo no Brasil
Essa postura, em geral, leva o debate das relações raciais apenas para o campo da subjetividade, como se o fato de uma pessoa branca ser mestiça, como todas as pessoas no Brasil são, a retirasse da sua responsabilidade social como pessoa branca. Isso dificulta a construção de diagnósticos objetivos e compromete o combate à desigualdade racial no Brasil, que, pelo menos hoje, não está dividido entre pessoas completamente brancas e pessoas completamente negras, mas sobre como a branquitude mobiliza os fenótipos brancos como marcas identitárias de poder.
Nesse cenário, se torna urgente retomar uma distinção fundamental: reconhecer experiências subjetivas não implica validar automaticamente categorias políticas ou epistemológicas derivadas dessas experiências. O primeiro argumento a ser enfrentado nesse debate é justamente a tendência de converter sentimentos reais de rejeição, que podem ocorrer nos mais variados e problemáticos contextos, em premissas políticas sem a mediação do caráter estrutural do racismo.
Sentir-se como mestiço ou vivenciar a não pertença não significa, necessariamente, que exista uma realidade objetiva da mestiçagem como categoria fixa. Isso pode falar muito mais do racismo, que dificulta as pessoas se tornarem negras, como uma vasta produção científica brasileira mostra, do que uma fixidez que poderia conferir uma identidade própria à categoria mestiça.
Afinal, as raças não existem como uma realidade fora dos contextos das relações sociais. A raça pura, nunca é demais lembrar, só existiu na mente de nazistas e fascistas. Toda a humanidade é resultado de contínuas misturas genéticas.
A própria ideia de um sujeito mestiço real, como defendida pela influenciadora e graduada em produção cultural pela UFF (Universidade Federal Fluminense) Beatriz Bueno, se revela conceitualmente equivocada, pois pressupõe a existência de raças puras como ponto de origem —algo refutado por décadas de pesquisa genética, antropológica e por inúmeros estudos em ciências sociais de modo geral, como os trabalhos de Guerreiro Ramos, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento etc.
O que existe, em termos concretos, são variações fenotípicas inscritas em corpos diversos, que são socialmente interpretadas e carregadas de significados discursivos, os quais são sempre situados em determinados contextos.
Cidades e estados com mais pretos, brancos, pardos, amarelos e indígenas no Brasil
Essas marcas corporais —como cor da pele, traços faciais, textura do cabelo— não têm valor em si mesmas, mas são lidas dentro de um sistema racializado que as hierarquiza e as associa a determinados lugares sociais. É esse processo de significação que funda a experiência do racismo, não a suposta mistura genética que não apenas é redundante (afinal, qual povo no planeta não é misturado?) como informa muito pouco a respeito das questões sociais.
Portanto, embora seja fundamental escutar os afetos, as dores e os desconfortos que atravessam os sujeitos racializados de modo ambíguo e nunca de maneira uniforme, isso não pode se converter em critério absoluto para a definição das categorias analíticas.
A centralidade da categoria pardo nos debates atuais impõe a necessidade de elaboração conceitual rigorosa, capaz de dar conta da complexidade das experiências sem abrir mão da crítica à estrutura racial que organiza a sociedade brasileira. É preciso que esse debate recupere a extensa literatura produzida sobre o tema no Brasil porque, do contrário, estaremos reeditando mais um capítulo do que Sueli Carneiro denunciou como epistemicídio, outra linha de atuação do racismo.
É nesse contexto que se torna necessário lembrar por que, historicamente, pretos e pardos formaram juntos a categoria política de negro. Desde sua formulação nos movimentos negros do século 20, essa categoria nunca propôs o apagamento da identidade parda. Pelo contrário, sempre reconheceu a diversidade fenotípica e a especificidade das experiências de discriminação dentro do grupo racializado.
A força da categoria negro reside exatamente na solidariedade construída entre pretos e pardos, que, apesar das diferenças, compartilham a experiência histórica da subalternização e da violência racial. O racismo, sabemos, incide sobre esses corpos. A construção da identidade negra como categoria política foi e continua sendo uma estratégia de fortalecimento coletivo frente à supremacia branca e à fragmentação colonial.
Nesse ponto, é igualmente fundamental enfrentar com honestidade as hierarquizações que se expressam dentro do próprio grupo de pessoas negras. Embora seja legítima a crítica ao colorismo e à sobreposição histórica de corpos de pele mais clara em posições de visibilidade, essa crítica tem sido, por vezes, convertida em desqualificação generalizada de sujeitos negros de pele clara. Isso pode apontar para um compreensível desconforto diante de desigualdades internas reais, mas também o risco de reprodução de lógicas excludentes dentro de um campo político que deveria se basear na solidariedade radical.
O combate ao colorismo não pode ser transformado em uma nova forma de policiamento identitário. Quando o julgamento se volta contra aqueles que não têm a pele escura como forma de deslegitimar sua negritude, o que se faz, inadvertidamente, é alimentar a cisão que tanto se pretende evitar. É usar as armas do colonizador contra a própria população negra.
É precisamente por isso que a proposta de criação de uma nova categoria racial, como a chamada parditude, deve ser recusada com clareza e firmeza. A ideia de instituir uma categoria racial distinta da categoria negro representa uma inflexão profundamente perigosa no campo das lutas antirracistas. Ainda que apresentada sob o pretexto de dar visibilidade a uma experiência de ambiguidade, a parditude opera, na prática, uma cisão política artificial e funcional aos interesses da branquitude.
É notável a adesão de pessoas lidas socialmente como brancas ao que se chama parditude. Fragmentar o campo negro em categorias supostamente mais fiéis à experiência subjetiva é, neste momento histórico, uma estratégia conservadora que se reveste de reconhecimento. Isso porque as experiências subjetivas são infinitamente diferentes, pelo seu próprio caráter subjetivo, mas o que reúne as pessoas pretas e pardas na categoria de negras é o fato de que elas sofrem racismo pelo que guardam, com mais ou menos marcadores, de negro ou, em alguns casos, de indígenas.
A categoria parditude não é apenas algo que não encontra lastro conceitual no diálogo com o extenso debate racial consolidado no Brasil porque poderia ser uma categoria que ainda seria mais bem desenvolvida. Ela é politicamente regressiva. Aqui repousa a sua gravidade.
Ao propor um nome próprio para a ambiguidade, retoma e atualiza o velho projeto colonial e eugenista que buscava nomear e classificar os corpos misturados para mantê-los sob vigilância e fora do campo político da negritude. Ao separar pardos de pretos, se enfraquece o pacto coletivo que sustentou a construção das ações afirmativas, da denúncia do racismo institucional e da politização da identidade racial como instrumento de transformação social. A parditude oferece à branquitude uma alternativa confortável: desresponsabiliza, desvia o foco e aprofunda a confusão.
Não é de uma nova categoria que precisamos, mas da afirmação radical da solidariedade entre os que sofrem os efeitos do racismo. Reforçar a unidade política da negritude não significa dizer que exista uma essência de ser negro ou que todas as pessoas negras são iguais e contêm os mesmos marcadores fenotípicos.
Processos por injúria racial crescem 600% no Brasil
É importante não confundir a realidade com um filme como “Pantera Negra”, que divide as pessoas entres pretas e brancas de forma binária. No Brasil, há um extenso matiz de pessoas negras com as suas diversidades, mas isso não as torna menos negras quando é a hegemonia branca que organiza socialmente a desigualdade racial do Brasil.
Acreditamos que é uma tarefa urgente diante das tentativas de esvaziamento e fragmentação da negritude que tenhamos consciência da complexidade da experiência da negritude no Brasil. Isso inclui, também, o enfrentamento honesto das hierarquizações internas, produzidas por algumas pessoas negras. O desafio que se impõe é o de construir uma abordagem que reconheça a legitimidade da singularidade das vivência, sem sacrificar as categorias políticas de enfrentamento ao racismo.
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Ilustrada e ilustríssima. pag B10, 24/08/2025.