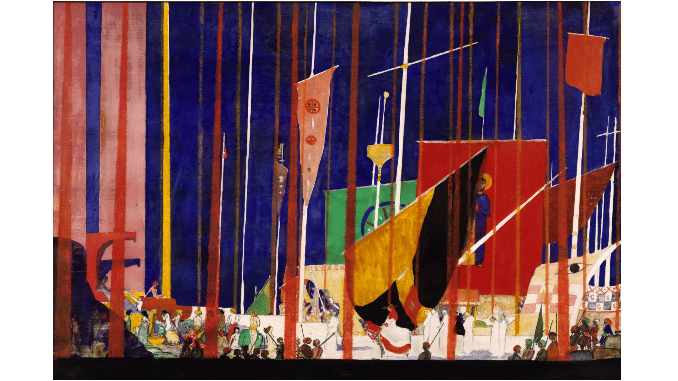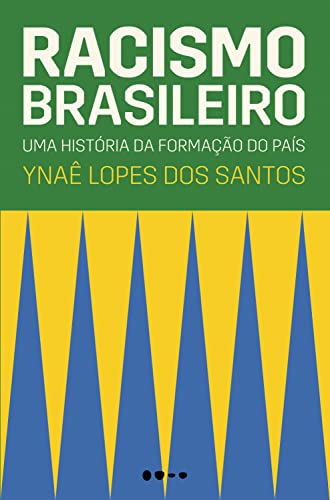Por Sara Sacramento
O histórico brasileiro de ausência estatal e violações às crianças negras contribuiu para o desenvolvimento de uma necropolítica que exclui a infância, com base na raça, ao acesso de direitos básicos e fundamentais.
Em um processo criminal datado do Século 19, em São Paulo, encontramos a história de Ambrosina, mulher negra, escravizada, analfabeta, ama de leite e mãe de Benedito. Ambrosina, ao ser acusada por negligência na morte do filho de seu senhor – um bebê de apenas dois meses -, defendeu sua inocência argumentando que só amamentava o seu filho a noite, para que não faltasse leite durante o dia para amamentar a criança de seu senhor. Esse exemplo, ainda que de séculos passados, escancara a realidade das diferenças sociais que atravessam as infâncias no Brasil, sendo marcadas pela raça e impactando o acesso e garantia de direitos básicos. As condições de precarização e vulneração socioeconômicas impostas sob as trajetórias de mães negras impactam diretamente na forma com que seus filhos experimentarão a infância. Deste modo, é possível perceber que mesmo histórias tão distantes, como as de Ambrosina e Benedito, no século 19, se conectam através da retirada precoce da vida e infância de casos como o do menino Miguel, de 5 anos, que em 2020 caiu do 9º andar do prédio em que sua mãe trabalhava como diarista, logo após ser deixado pela patroa sozinho no elevador. Tanto Miguel quanto Benedito tiveram suas vidas atravessadas pela desumanização de seus corpos e pela ausência de políticas públicas capazes de garantir o acesso a direitos básicos.
O conceito de Necropolítica, apresentado pelo filósofo Achille Mbembe, em seu livro “Política da Inimizade”, demonstra que o Estado, de forma intencional, cria mecanismos políticos para produzir as mortes – diretas ou indiretas -, daqueles corpos definidos como inimigos do Estado. Nesta linha, a necroinfância pode ser definida como “o conjunto de práticas, técnicas e dispositivos que não permitem que as crianças negras gozem a infância”.
Apesar da morte ser o caminho natural da vida, na trajetória dos corpos negros infantis ela é politicamente estruturada de forma a materializa-se como um destino precoce. Antes de existir, uma criança negra já é um ser politicamente destinado à morte. A morte física e até mesmo simbólica desses corpos se apresenta a partir das ações violentas e da ausência estatal na elaboração de políticas públicas em seus territórios – por meio da negação de direitos básicos como saúde, alimentação, moradia, saneamento básico e educação.
Ao analisar o processo político e histórico de construção das normas no país é necessária a compreensão de duas premissas substanciais: a elaboração de uma norma não se desenvolve a partir da neutralidade e a sua análise não deve ser dissociada dos anseios sociais e políticos existentes durante o processo de formulação e aplicação da lei.
Esses pressupostos nos levam a refletir sobre o percurso das normas que se dedicaram a pensar as infâncias no Brasil e a perceber que a necropolítica se apresenta como um fio condutor que revela a desigualdade que existia nas leis – ao garantir às crianças brancas o direito à infância e eleger crianças negras como inimigas do Estado.
É preciso pensar a raça como fator central na elaboração e promoção de políticas públicas sobre infância no Brasil como um caminho de entrave e redução das desigualdades no acesso e exercício do direito à infância, para que o direito à vida seja regra e não exceção
A primeira violação do Estado brasileiro surge a partir da desumanização, coisificação e exploração desses corpos – ainda que infantis -, durante o processo de escravidão. Muito embora nesse período toda criança fosse vista como propriedade – logo, não eram entendidas como sujeitos de direito -, ao tornar corpos negros infantis como “não-crianças” o Estado brasileiro legitima a violação destes corpos. Por esta razão era comum o aborto forçado de mulheres negras, sequestro e homicídio de crianças para não desviar a mãe do trabalho, nutricídio de crianças negras cujas mães eram impedidas de amamentar e até castigos crueis e trabalhos forçados.
Posteriormente, durante o século 18, a preocupação do Estado limitava-se ao recolhimento das crianças órfãs, enjeitadas ou expostas aos cuidados da igreja – eram em sua maioria ilegítimas ou filhos de escravizados. Durante o império vemos, também, a criminalização dos vadios e capoeiras (1890), a regulamentação da Casa de Correção com o objetivo de corrigir menores delinquentes, mendigos e vadios frente ao Código Penal de 1830, que já previa a responsabilização da criança a partir dos 7 anos, caso fosse identificado que esta tivesse “discernimento”.
Apenas na segunda metade do Século 19 é que surge a preocupação com a educação da criança. Contudo, a lei já proibia, em 1837, que “escravos e pretos africanos” tivessem acesso à educação. Em 1854, surge uma determinação que torna obrigatória a educação para meninos maiores de 7 anos, excetuando os escravos e aqueles que tivessem algum tipo de impedimento físico ou moral.
Em 1871, a Lei do Ventre Livre dispunha que, a partir daquela data, toda criança nascida do ventre de uma mulher escravizada seria considerada livre, devendo permanecer em cativeiro com a mãe até os 8 anos. Ao atingir esta idade, a lei facultava aos proprietários de escravos a possibilidade de permanecer usufruindo do trabalho da criança até que esta completasse 21 anos ou de entregá-la aos cuidados do Estado em troca de uma indenização pela perda da propriedade. Esta lei configurou um marco importante – apesar de ineficaz e de não cumprir com a promessa de liberdade -, porque com ela surge o início da preocupação com o controle das infâncias negras.
Nesse momento em que o Estado passa a discutir sobre essas crianças, a influência dos médicos higienistas ganha corpo sobre a reflexão de políticas voltadas às crianças pobres. A dicotomia se apresenta no imaginário coletivo e legislativo da época, por um lado pensando na proteção da criança, e de outro na preservação da sociedade contra a criança negra, que se torna objeto do medo branco e é elevada ao status de problema e ameaça à ordem pública. A questão que se coloca aqui é qual criança deve ser protegida? Qual infância é um problema para a sociedade brasileira?
É nesse cenário que ergue-se a diferenciação entre “criança” e “menor”, sendo a criança objeto de proteção da lei e do Estado, vista como futuro da Nação, e o menor como objeto a ser controlado pelo Estado, visto como um problema social. Com a consolidação de ideais eugenistas e a criação da Doutrina da Situação Irregular, presentes no Código de Menores de 1927 e 1979, surge um direcionamento à institucionalização da infância pobre e negra, vista como potencialmente perigosa. Embora a Constituição Federal de 1988 tenha se afastado da doutrina menorista, consagrando a expressão “criança e adolescente” e princípios fundamentais como a igualdade; e o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha introduzido no Brasil a Doutrina da Proteção Integral, é fundamental reconhecer que o Estado falhou com as crianças negras.
Ao analisar os resultados da política secular de extermínio e morte de crianças negras, a partir de olhares interseccionais, percebemos que o racismo que estrutura a nossa sociedade ainda é uma ferida aberta e latente. Como nos lembra bell hooks, em seu livro “Tudo sobre o amor: novas perspectivas”, em uma sociedade em que direitos são negados às crianças, é nossa responsabilidade reconhecer que elas “não são propriedades e têm direitos que nós precisamos garantir”.
A realidade brasileira conta com diversos exemplos de mortes de crianças e adolescentes por conta da violência policial e da repressão estatal, entre estes, João Pedro (14), Marcus Vinicius (14), Agatha Félix (8), Kauan Peixoto(12), Miguel Otávio (5), Emilly Vitória (4), Kethellen Umbelino (5). É preciso pensar a raça como fator central na elaboração e promoção de políticas públicas sobre infância no Brasil como um caminho de entrave e redução das desigualdades no acesso e exercício do direito à infância, para que o direito à vida seja regra e não exceção.
BIBLIOGRAFIA
Almeida, S. Racismo Estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.
Azevedo, C. M. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites do século XIX. Rio de janeiro: Paz e terra, 1987.
Sara Sacramento é graduanda em direito pela FBDG (Faculdade Baiana de Direito e Gestão) e foi integrante do programa de formação em pesquisa do LAUT.
Fonte: Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT).