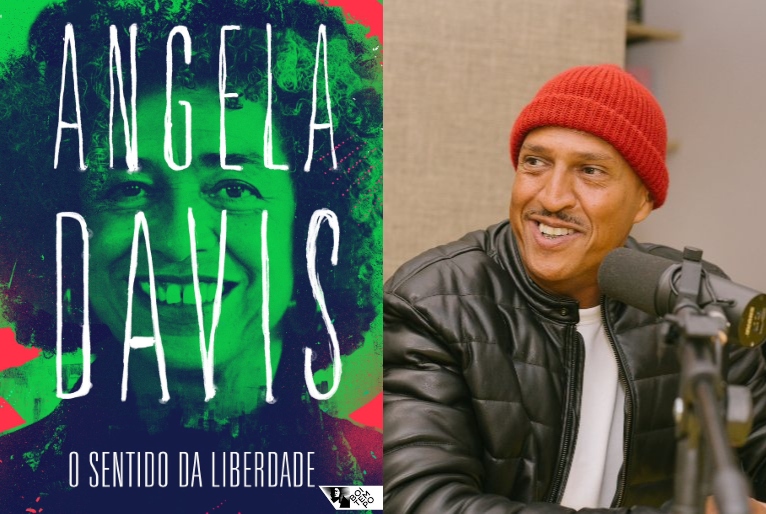[Mulher participa da Marcha Contra Racismo, Opressões e Violências Pelo Bem Viver, que ocorreu em julho de 2023 no Rio de Janeiro | Foto Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress]
Por Andrea Lopes da Costa e Bruna Nascimento Rodrigues da Silva
A violência tem historicamente servido como um instrumento de controle social e produção de poder. No âmbito das relações de gênero, ela se manifesta de diversas formas, desde aspectos mais subjetivos, como o controle sobre corpos e sexualidade, imposição de modelos de feminilidade e masculinidade, e padrões comportamentais, até formas mais objetivas presentes em práticas institucionais, como a divisão sexual do trabalho e disparidades salariais.
Como uma estratégia para manter controle e poder sobre mulheres, a violência é frequentemente naturalizada, rotinizada e justificada nas relações afetivas, sendo considerada parte das “brigas de casal”. Em situações extremas, como homicídios cometidos por maridos e companheiros, a violência ainda é hoje por vezes justificada como um ato de “lavar a honra com sangue”.
No Brasil, a violência contra mulheres está profundamente enraizada na sociedade, a ponto de o argumento “lavar a honra com sangue” ter se transformado em um princípio jurídico amplamente utilizado ao longo das últimas décadas – a tese da “legítima defesa da honra”. Só agora, em 2023, que o Supremo Tribunal Federal (STF) finalmente declarou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres.
Por esta razão, os movimentos feministas no Brasil, desde os anos 1970, tomaram o combate à violência contra mulheres como uma de suas principais bandeiras. A partir de então, através da utilização de estratégias diversas – como mobilização do debate público com manifestações ou a organização do chamado “advocacy feminista” para a pressão no campo político institucional – eles vêm obtendo inegáveis conquistas.
Dois exemplos pioneiros são o SOS Mulher e as Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres, criados ainda na década de 1980, e a promulgação da Lei integral de combate à violência doméstica e familiar contra mulheres, já nos anos 2000.
Sem dúvida, uma das maiores vitórias foi a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), cuja proposta avançou ao conjugar medidas jurídicas de proteção à vítima e penalização ao agressor, com uma rede de políticas públicas de prevenção e garantias.
Entre 2011 e 2022, sob o notável protagonismo de parlamentares mulheres, 36 proposições legislativas foram convertidas em leis. Estas abrangem, de forma resumida, diversas áreas, incluindo o tratamento do agressor e a atuação policial em relação a ele, o atendimento policial para as vítimas, o registro de informações junto às polícias civil e militar, a formulação de um sistema de informação, os cuidados com filhos e família da mulher vítima de feminicídio, o cuidado com a saúde da mulher agredida, a prevenção à violência contra parturientes, e a elaboração de diversas políticas públicas.
62% das vítimas de feminicídio no Brasil são negras
Apesar das conquistas inegáveis, algumas vertentes do feminismo negro, como o interseccional e o decolonial, destacam um paradoxo. Embora, de modo geral, as medidas reflitam uma proteção evidente para as mulheres, surge a necessidade de compreender que elas são frequentemente retratadas de maneira homogênea, como se todas compartilhassem os mesmos níveis de vulnerabilidade. Isso levanta questionamentos sobre a própria concepção de proteção, visto que a diversidade de experiências e desafios enfrentados por diferentes mulheres muitas vezes é desconsiderada.
Conforme dados do Fórum de Segurança Pública em 2019, 69% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. A taxa de homicídios é 1,7 vezes maior para mulheres negras, e esse índice tem experimentado um aumento significativo ao longo dos anos. Em 2009, a mortalidade de mulheres negras era 48,5% superior à de mulheres não negras, e em 2021 esse número aumentou para 65,8%. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 destaca que 62% das vítimas de feminicídio no país são mulheres negras.
Tomando este cenário como referência, as diferentes vertentes do feminismo negro propõem ampliar e complexificar o debate sobre a violência contra mulheres, incluindo como perspectiva fundamental a interconexão entre três grandes sistemas de dominação na sociedade: patriarcado, racismo e capitalismo. Isto significa compreender que as mulheres negras, as mais frequentemente agredidas, enfrentam uma condição agravada pela vulnerabilidade social, política e econômica. Muitas vezes, esta condição as conduz a ingressar em um ciclo de múltiplas violências, que inclui agressão direta, dificuldade em denunciar, descrédito e discriminação nos sistemas de justiça e penal, além da exposição pública em um ciclo de vitimização e revitimização.
Radicalização das punições não é eficaz
Levar em consideração essas questões implicaria, necessariamente, compreender que políticas que consideram as mulheres de maneira universal, presumindo um mesmo grau de vulnerabilidade, correm o risco de perpetuar a assimetria de classe e raça, resultando em um acesso desigual à justiça. Além disso, focar exclusivamente nas relações de poder decorrentes da dominação de gênero para analisar a violência poderia distorcer a interpretação do fenômeno, concentrando-se excessivamente na dinâmica agressor/vítima e, por conseguinte, fortalecendo um conjunto de leis com ênfase no punitivismo.
Os feminismos negros, ao adotarem uma abordagem antipunitivista e abolicionista penal, compreendem que a radicalização das punições não constitui uma solução eficaz para a violência contra as mulheres. Além de serem ineficientes, acredita-se que a intensificação das penas impactaria de maneira desproporcional um grupo específico da sociedade, determinado por gênero, raça e classe. Nesse sentido, em vez de reduzir a violência, essa abordagem poderia resultar no encarceramento majoritário de homens negros.
Por fim, os feminismos negros, ao reconhecerem a singularidade da vulnerabilidade das mulheres negras, transcendem a leitura tradicional, unidimensional e universal das condições de gênero, enriquecendo assim o debate. Nesse sentido, pode-se afirmar que, ao questionar a concepção tradicional de mulher que historicamente tem orientado os processos legislativos, os feminismos negros não apenas incorporam raça e classe como categorias indissociáveis de gênero, mas, acima de tudo, reconfiguram e atribuem novos significados ao próprio fazer político.
Fonte: The Conversation Brasil.